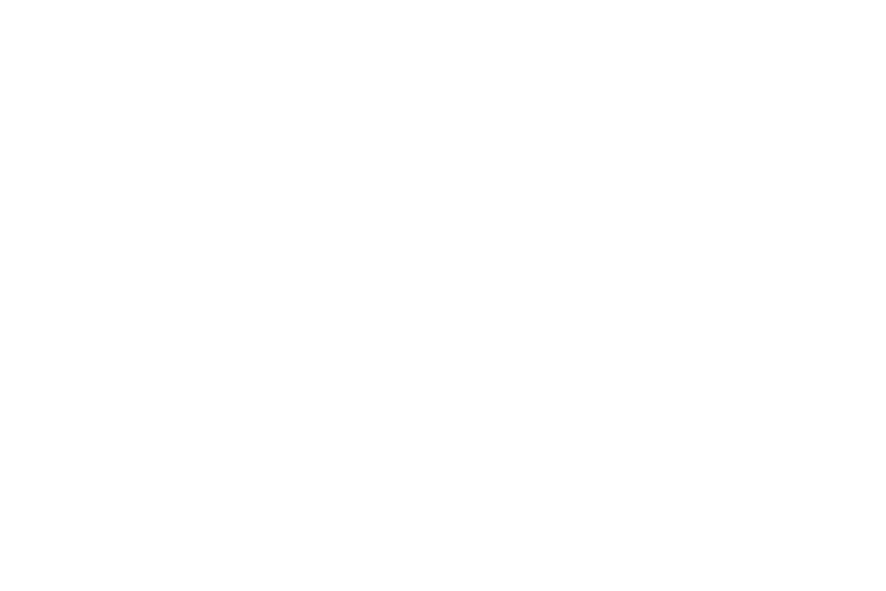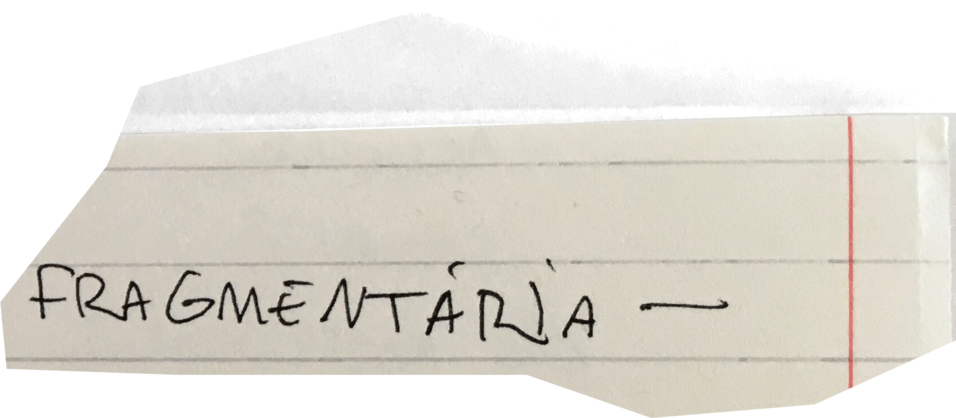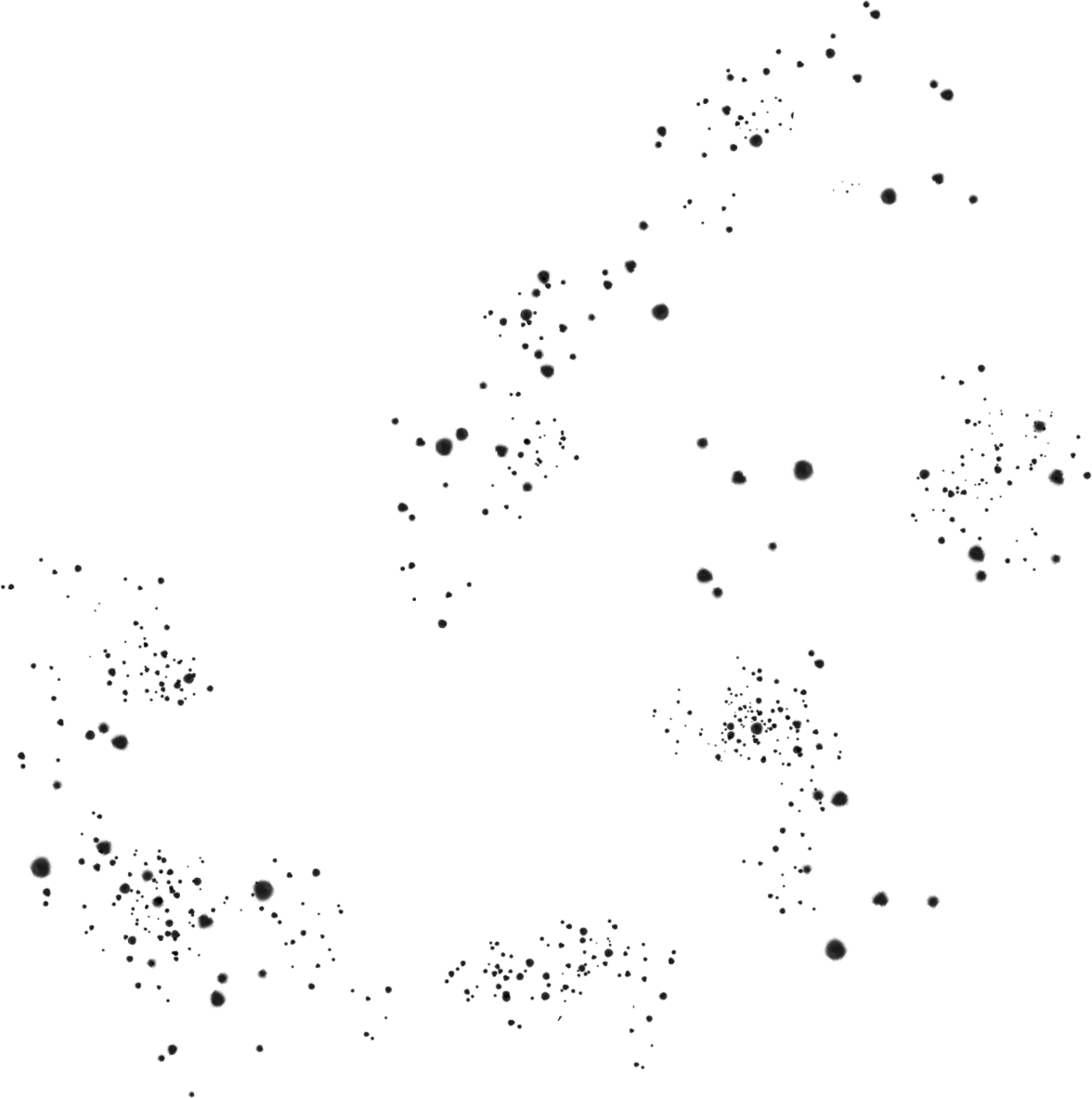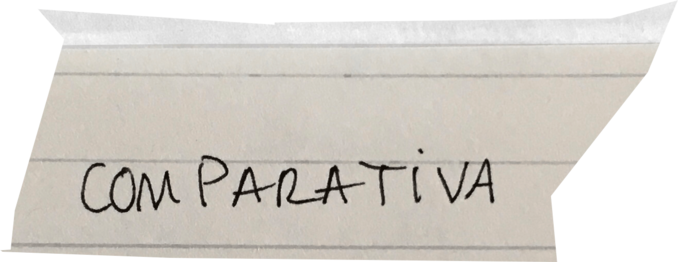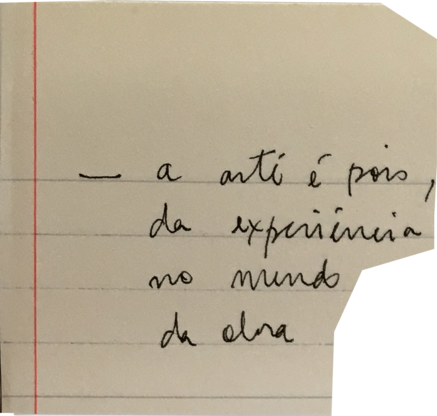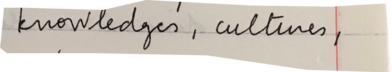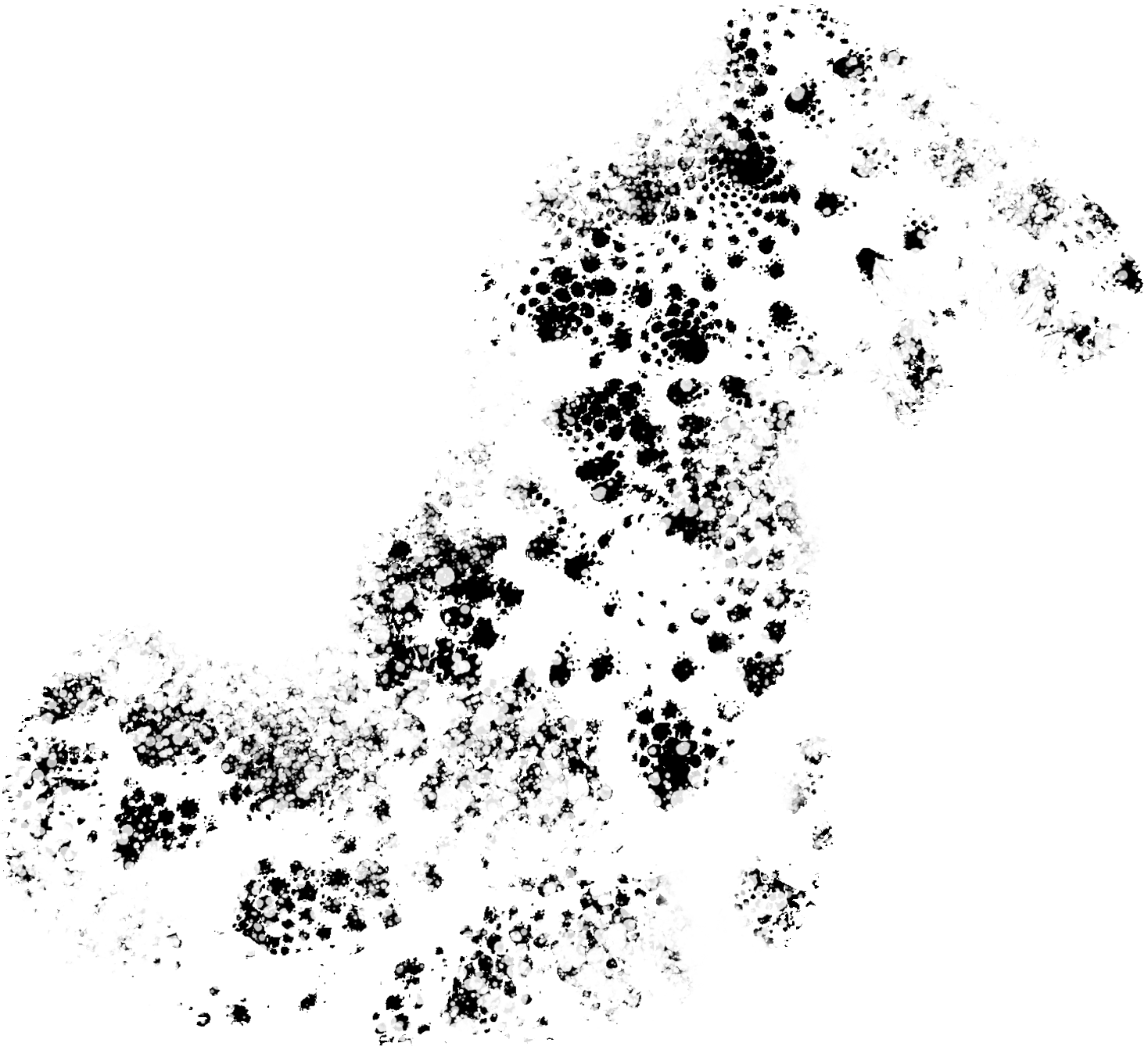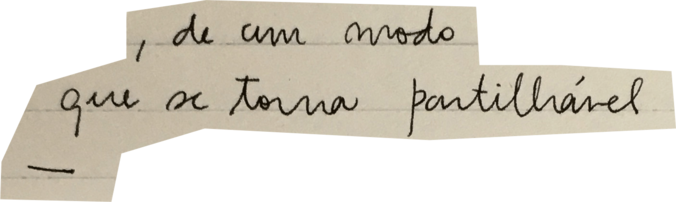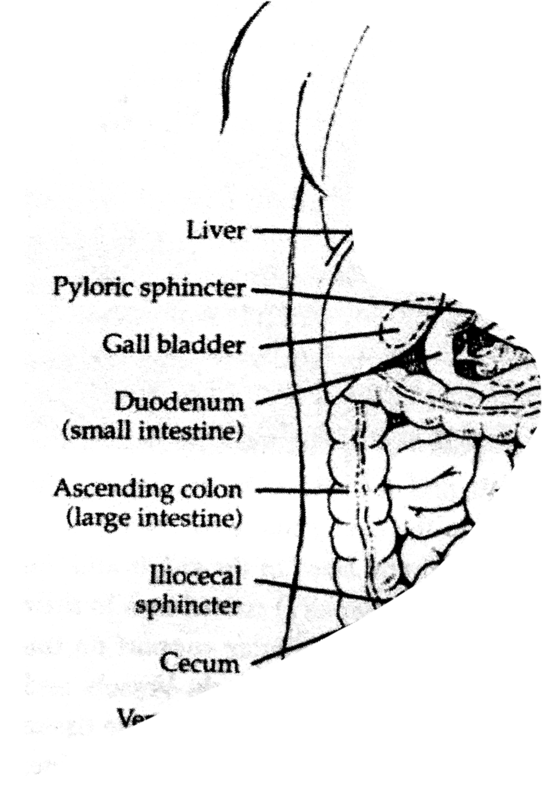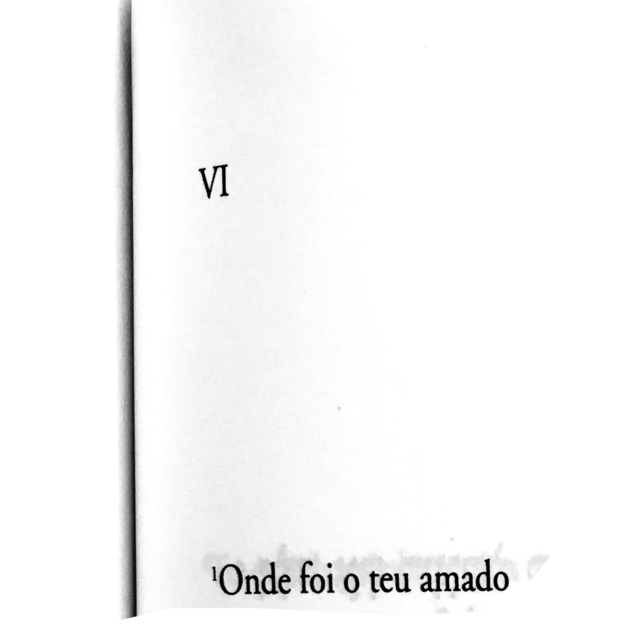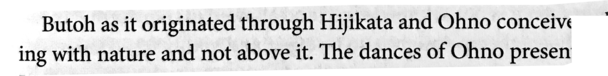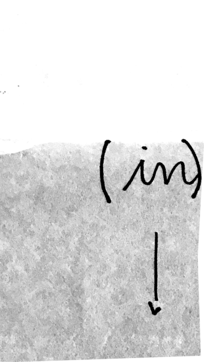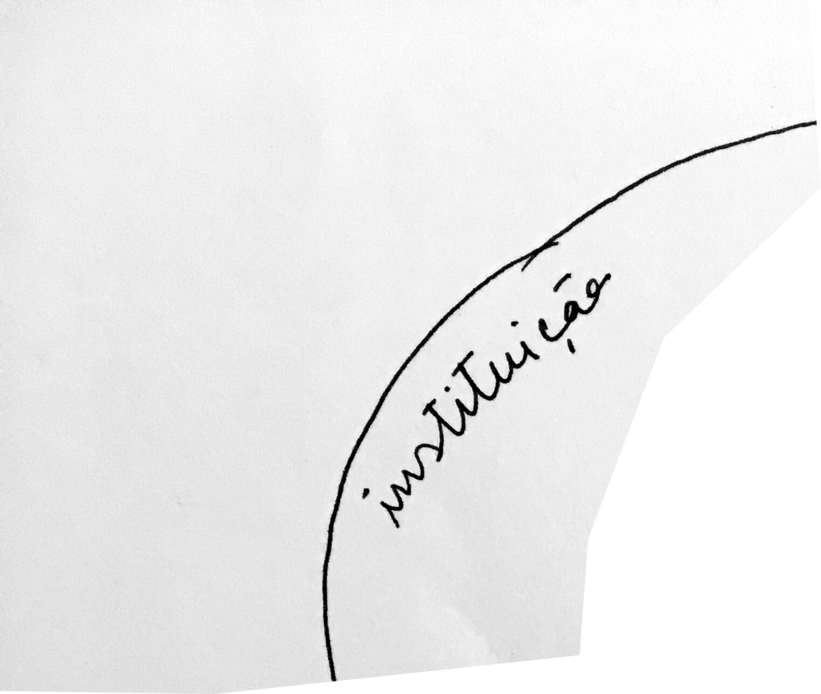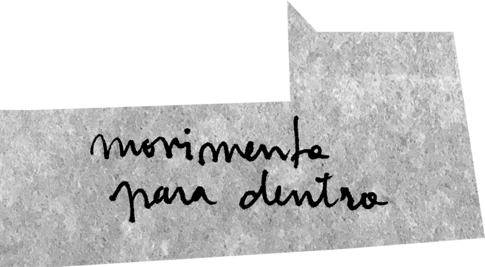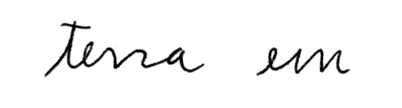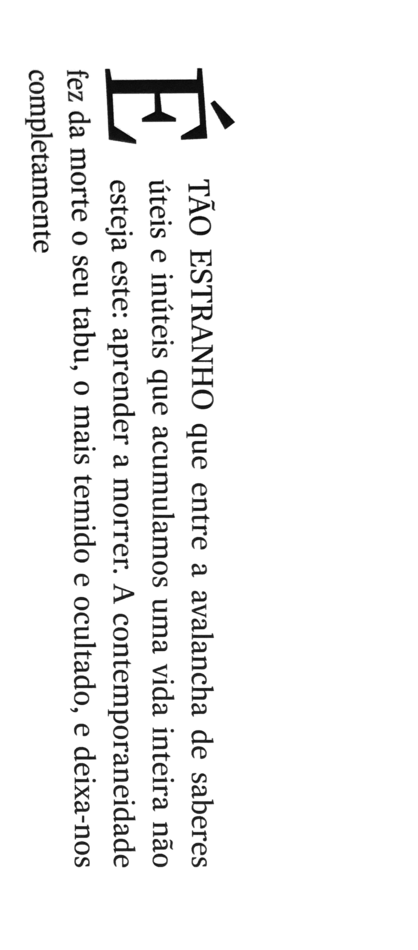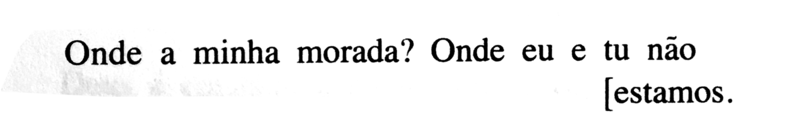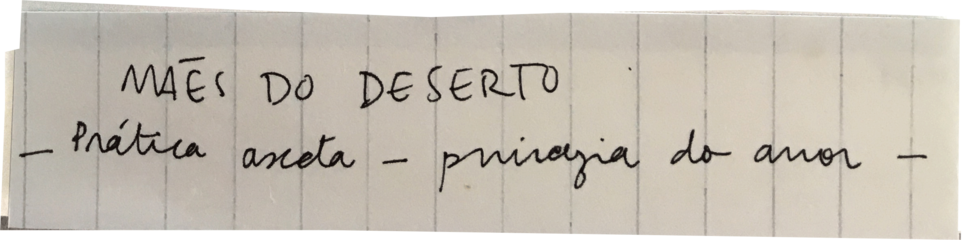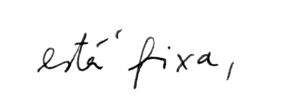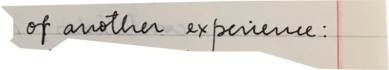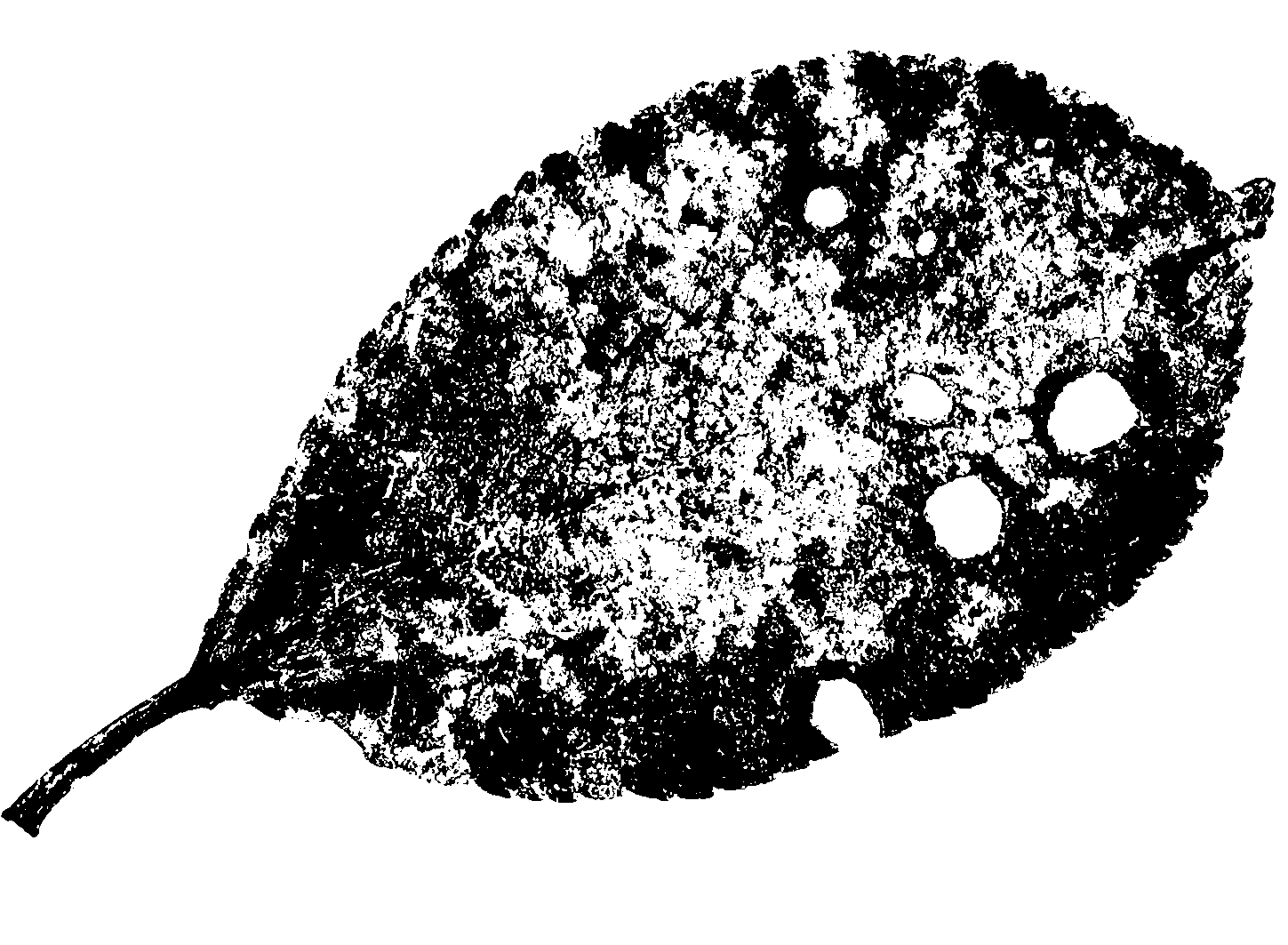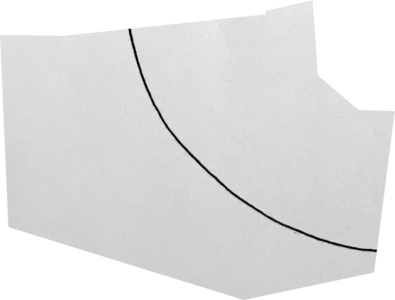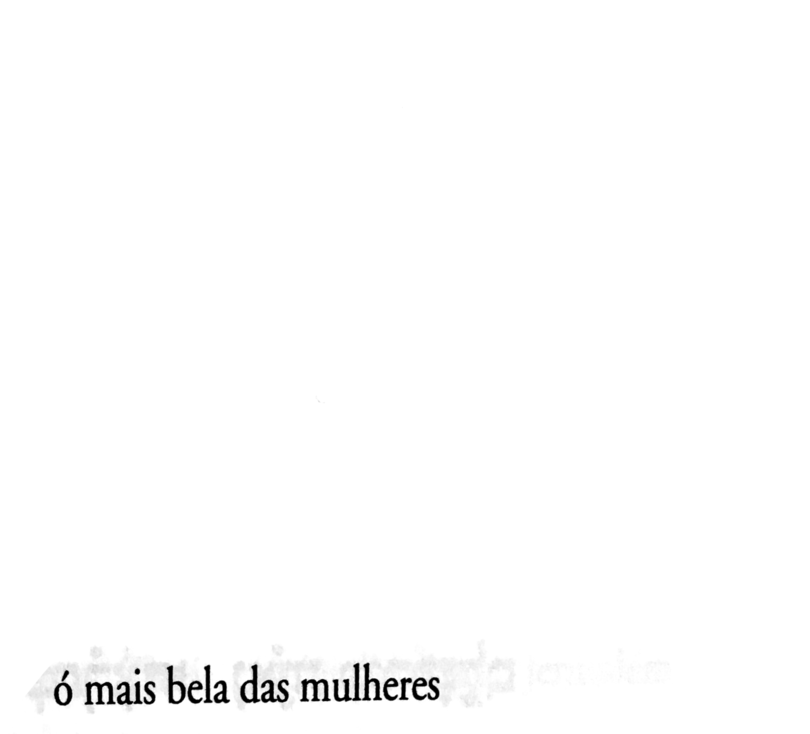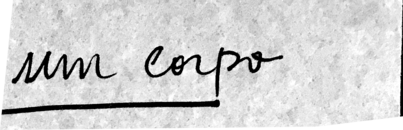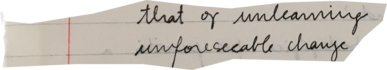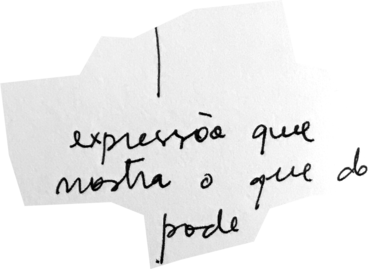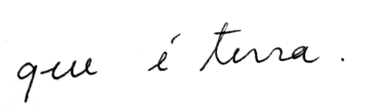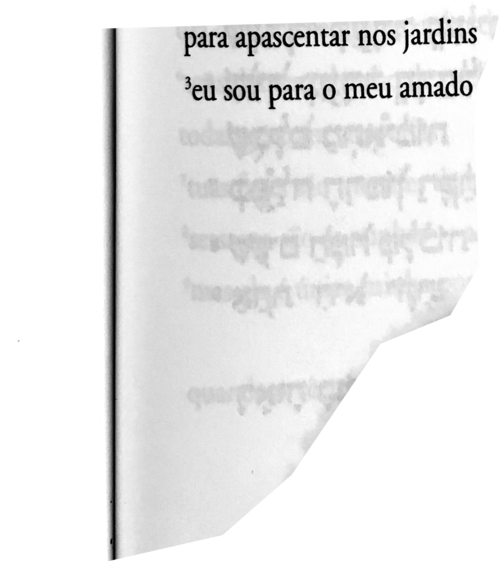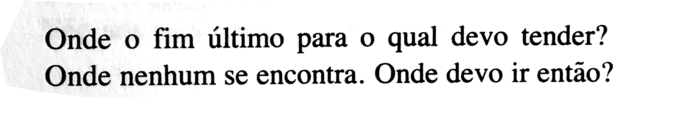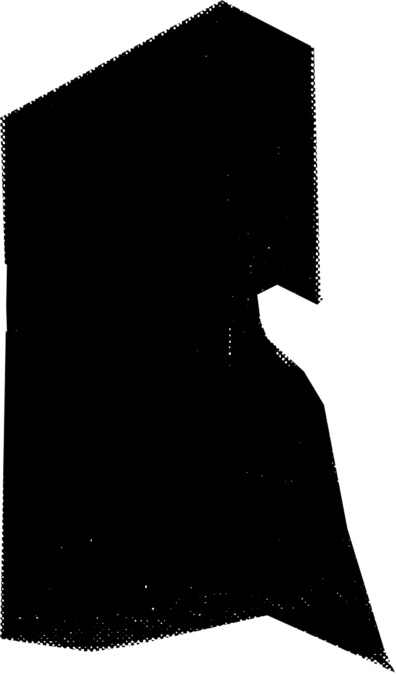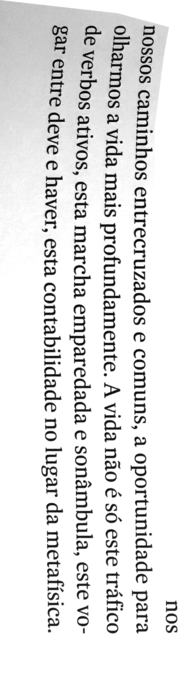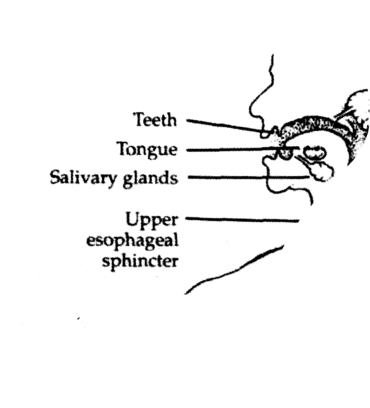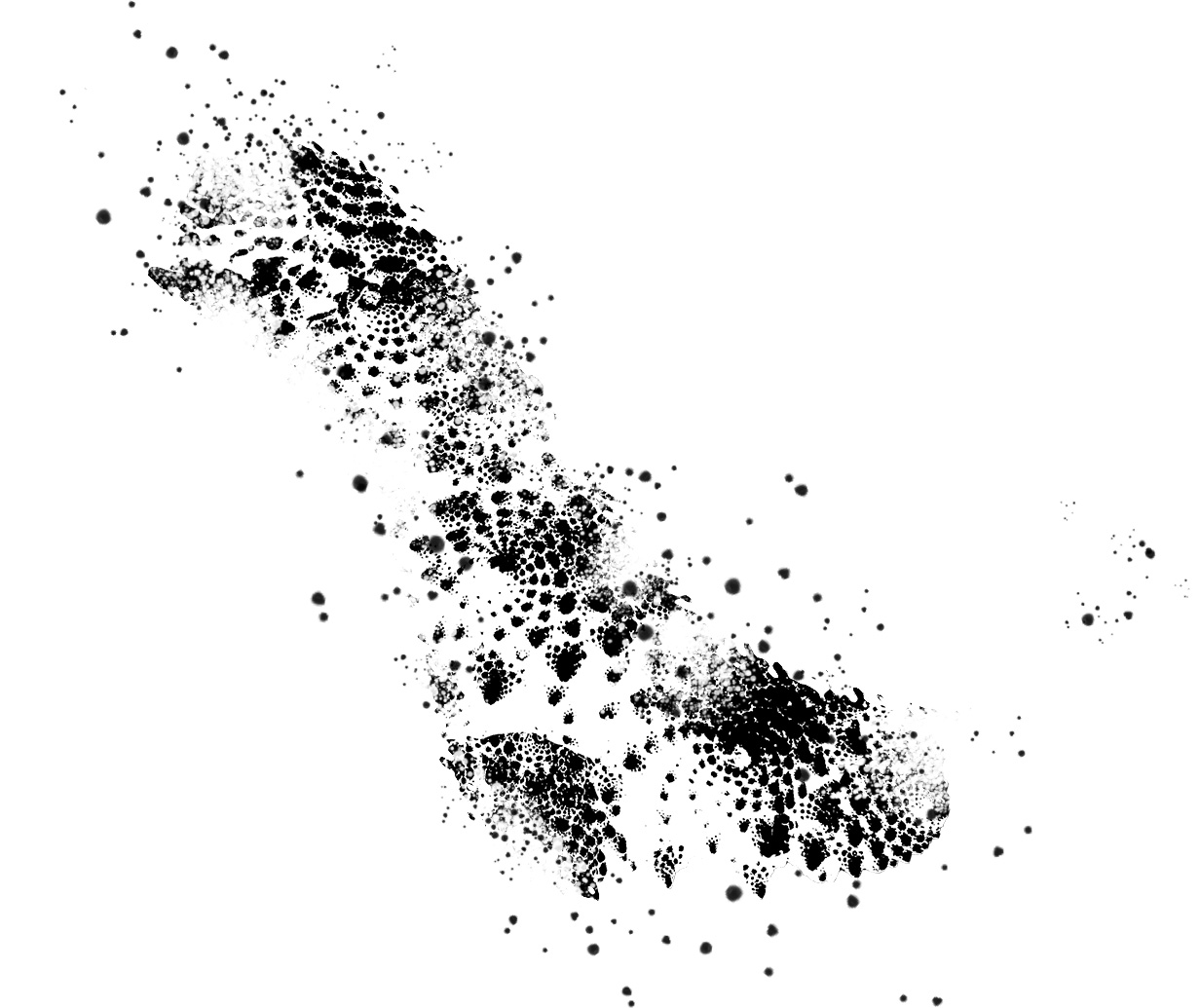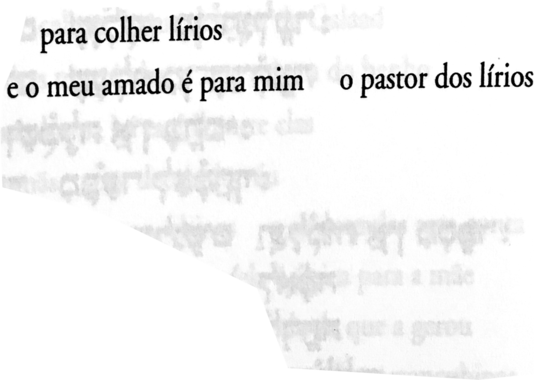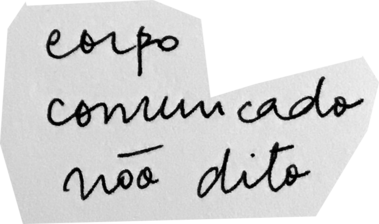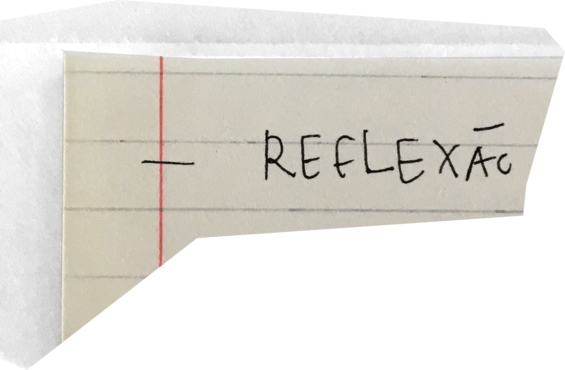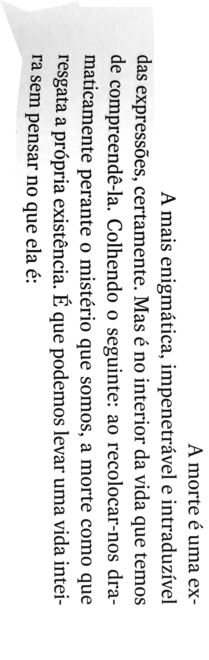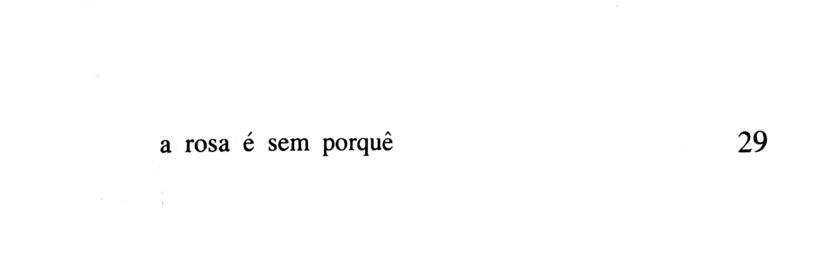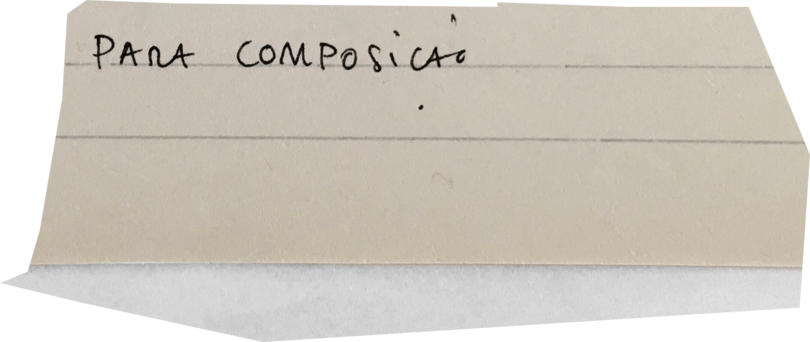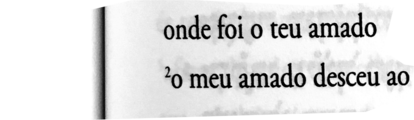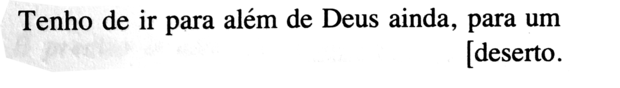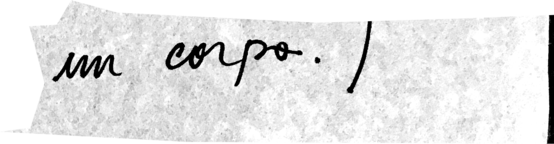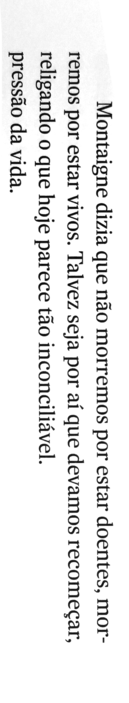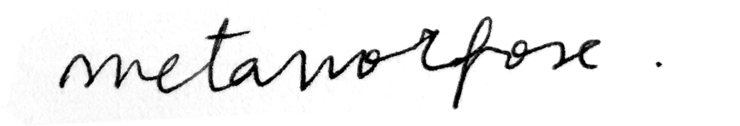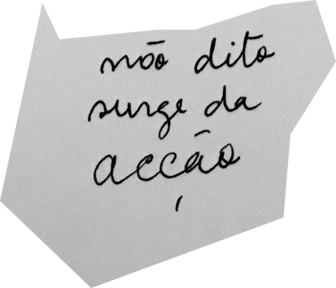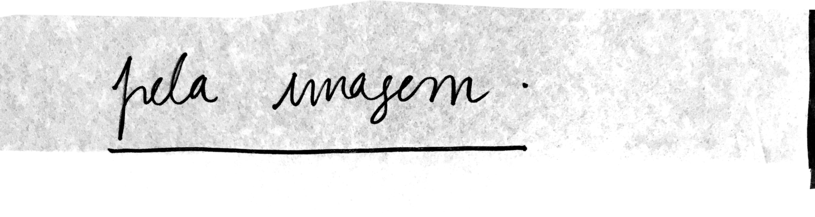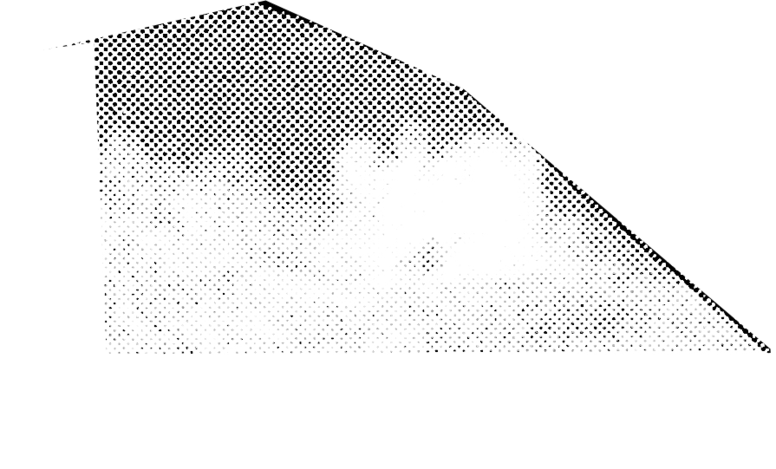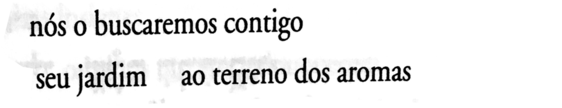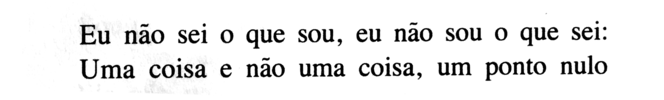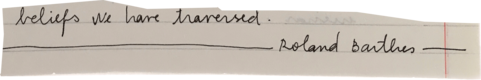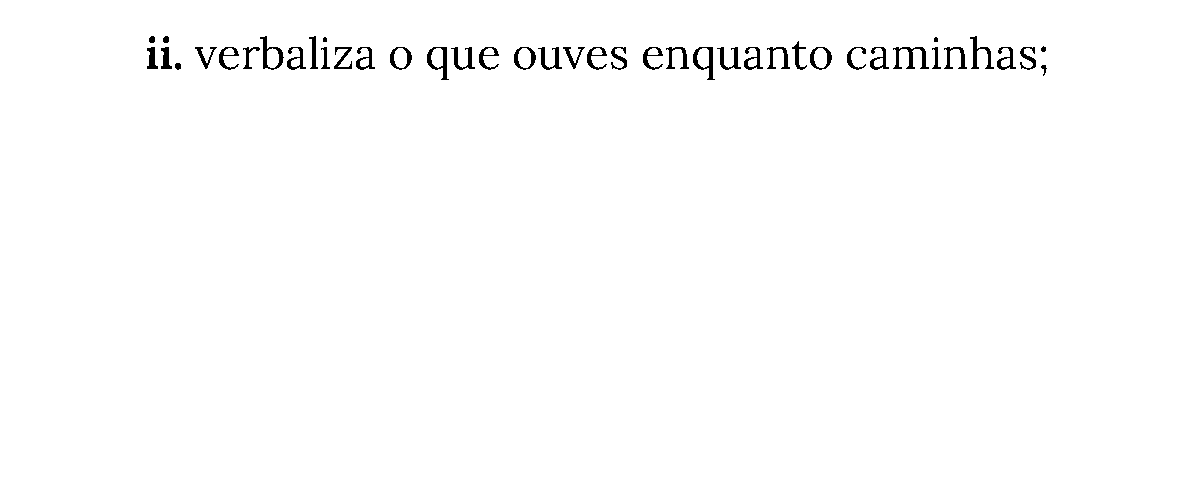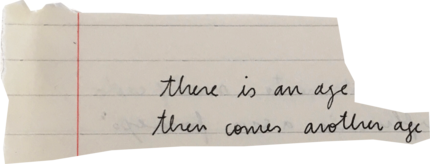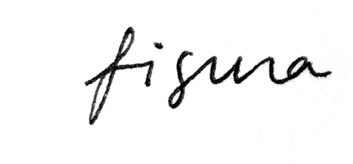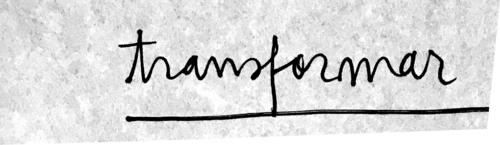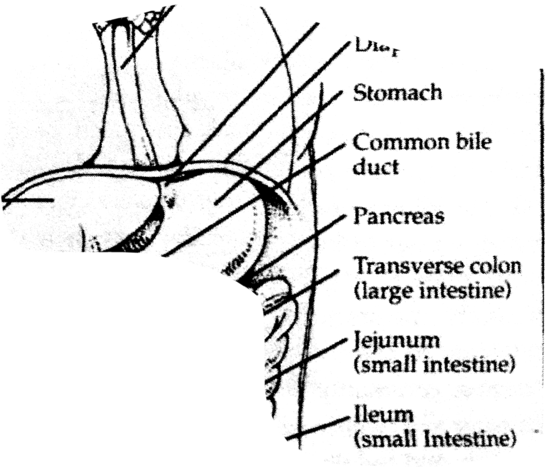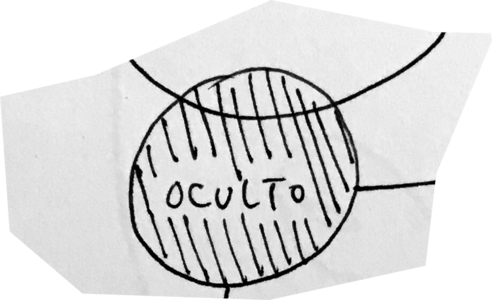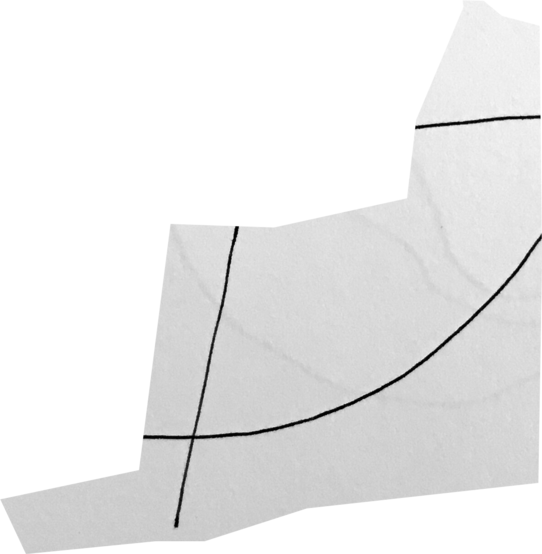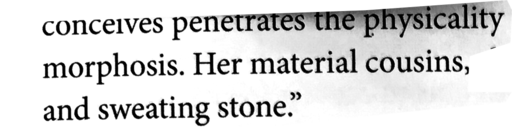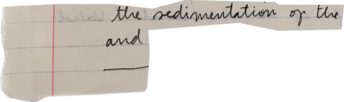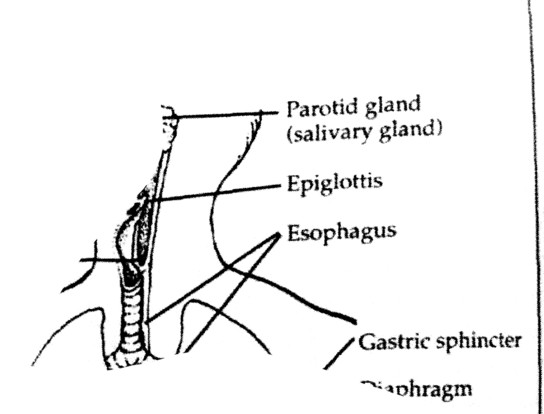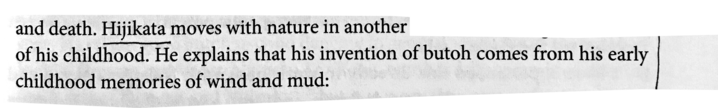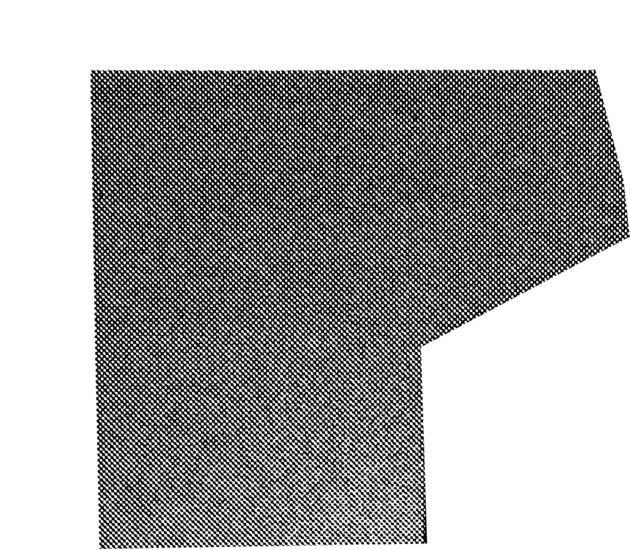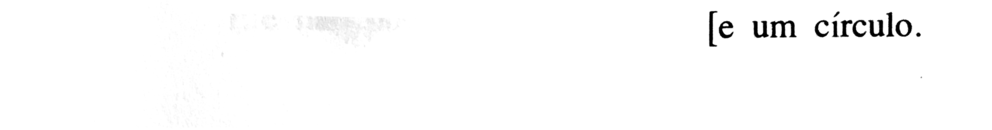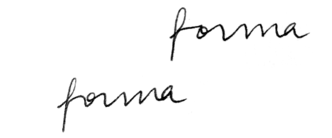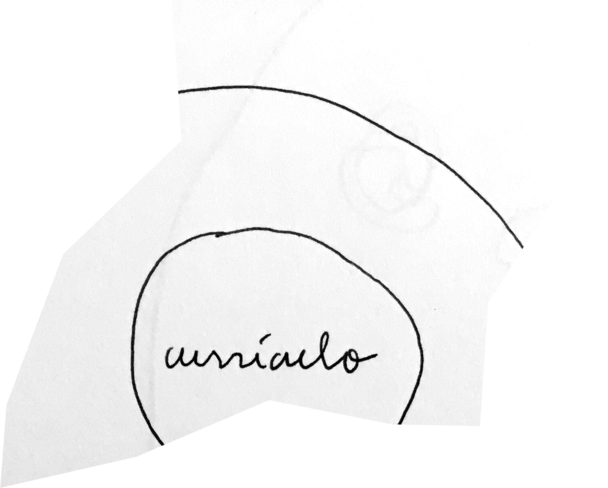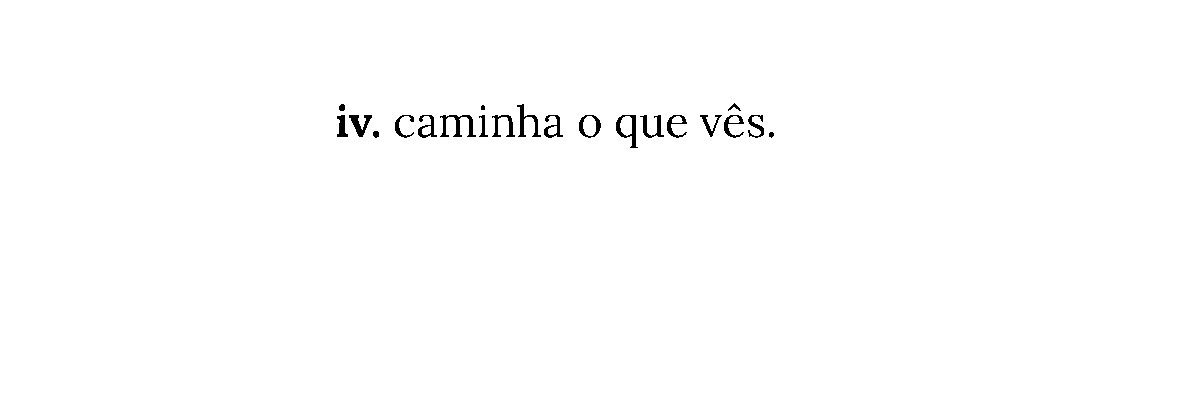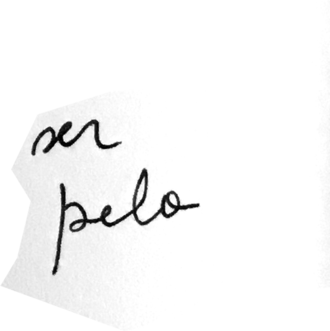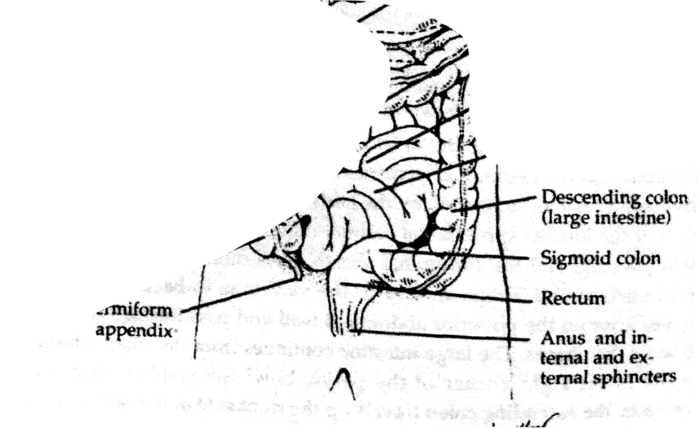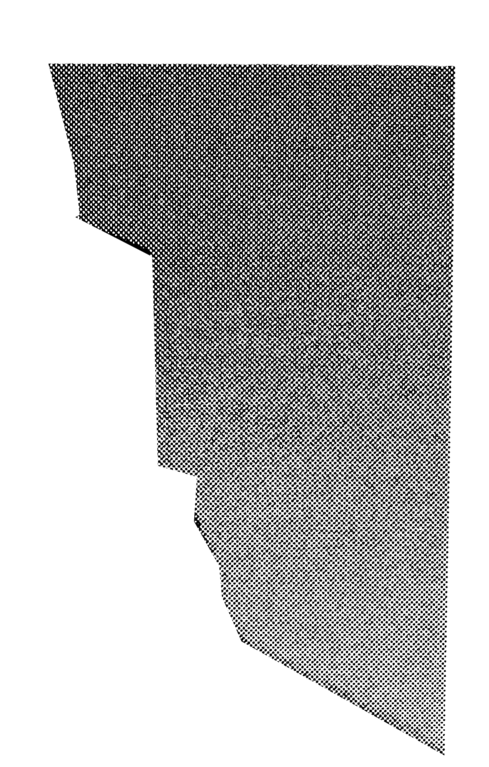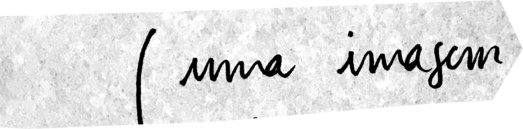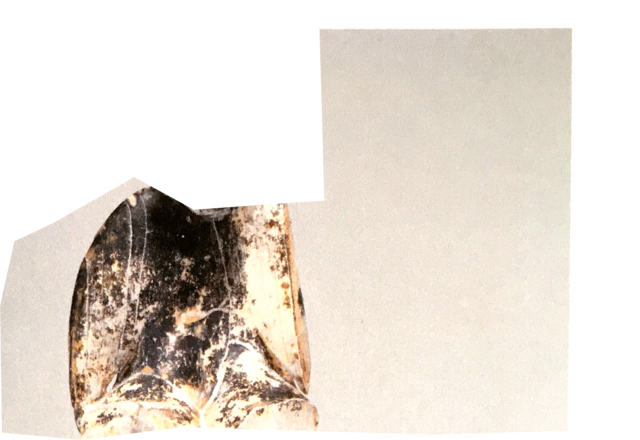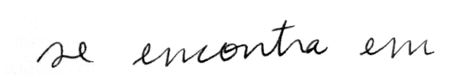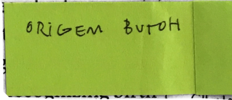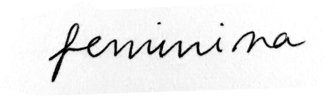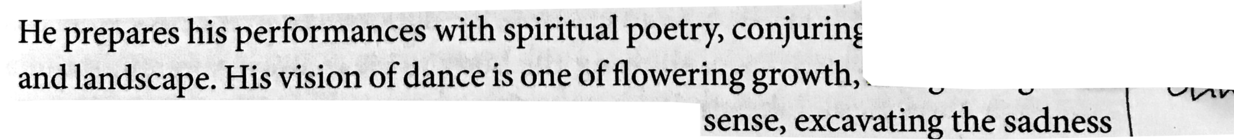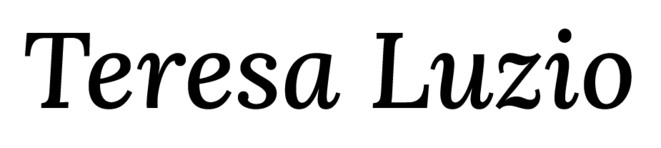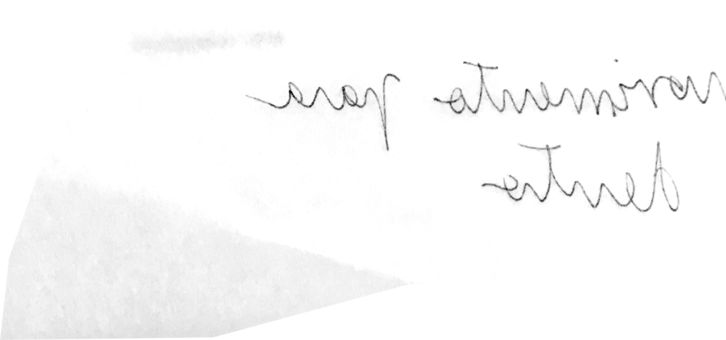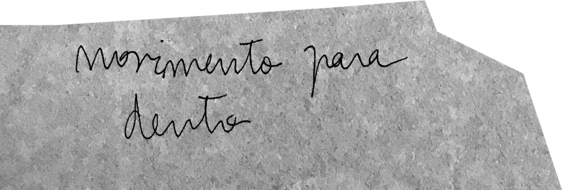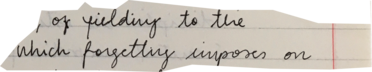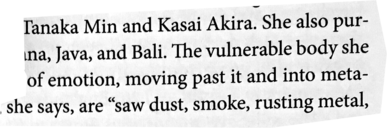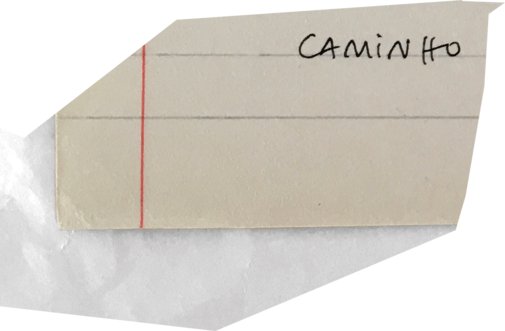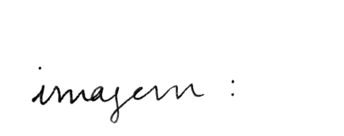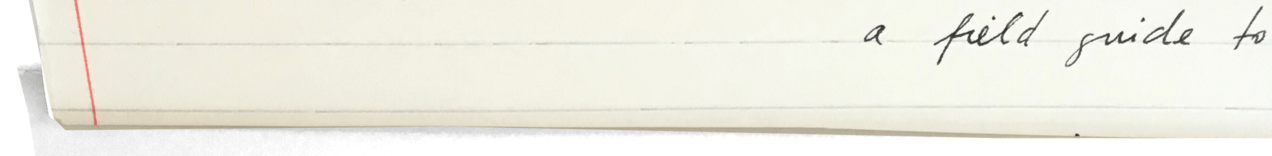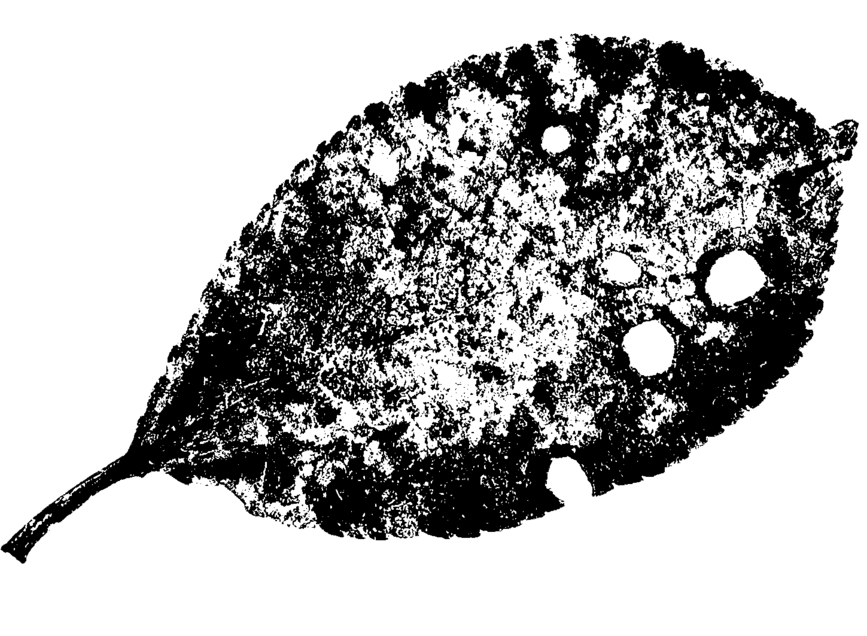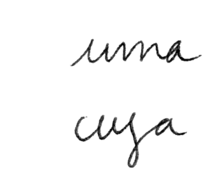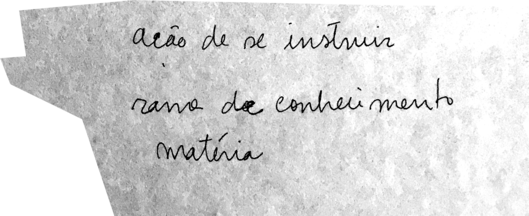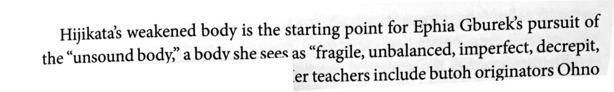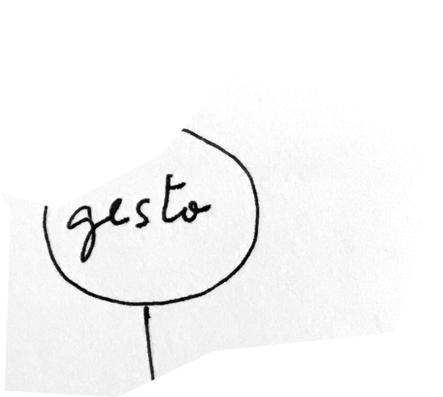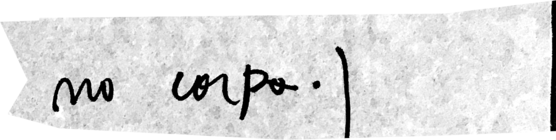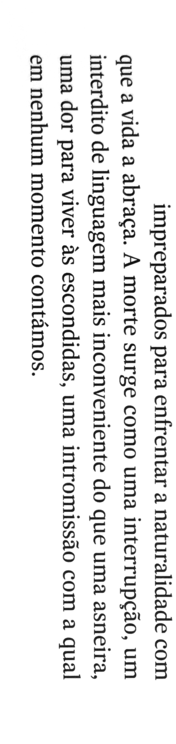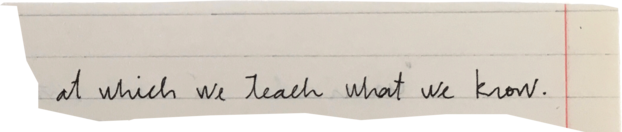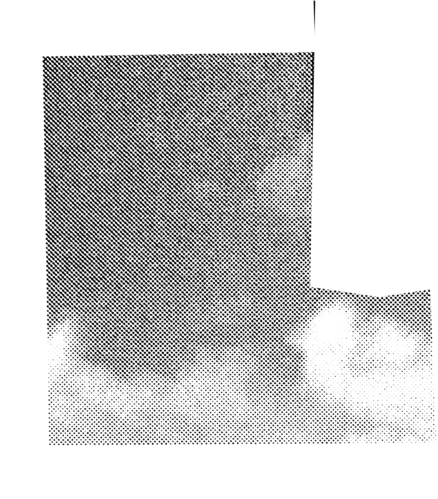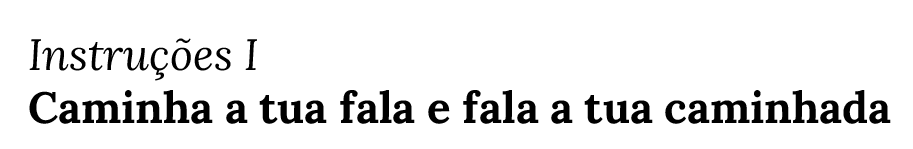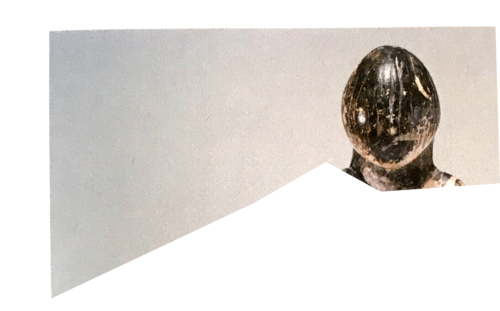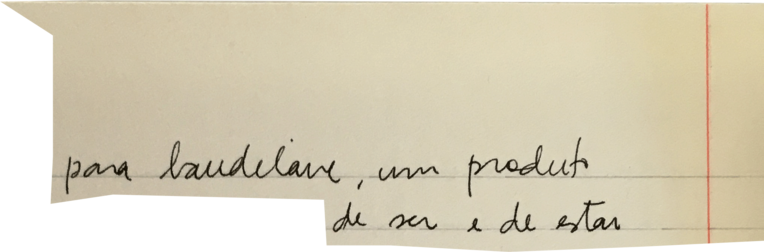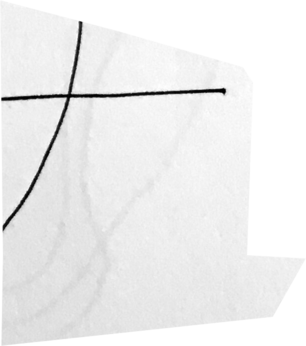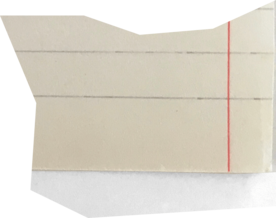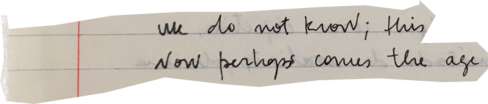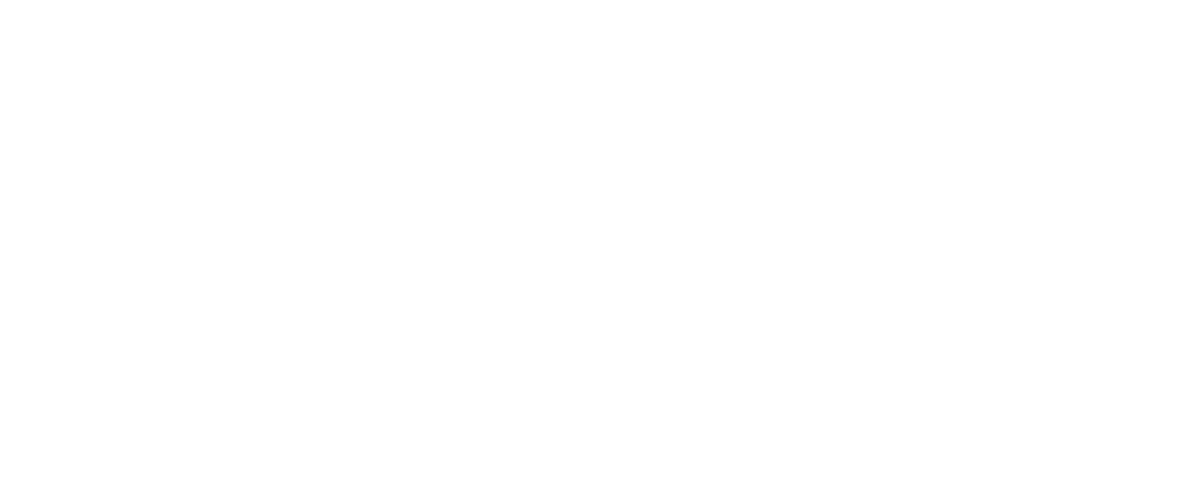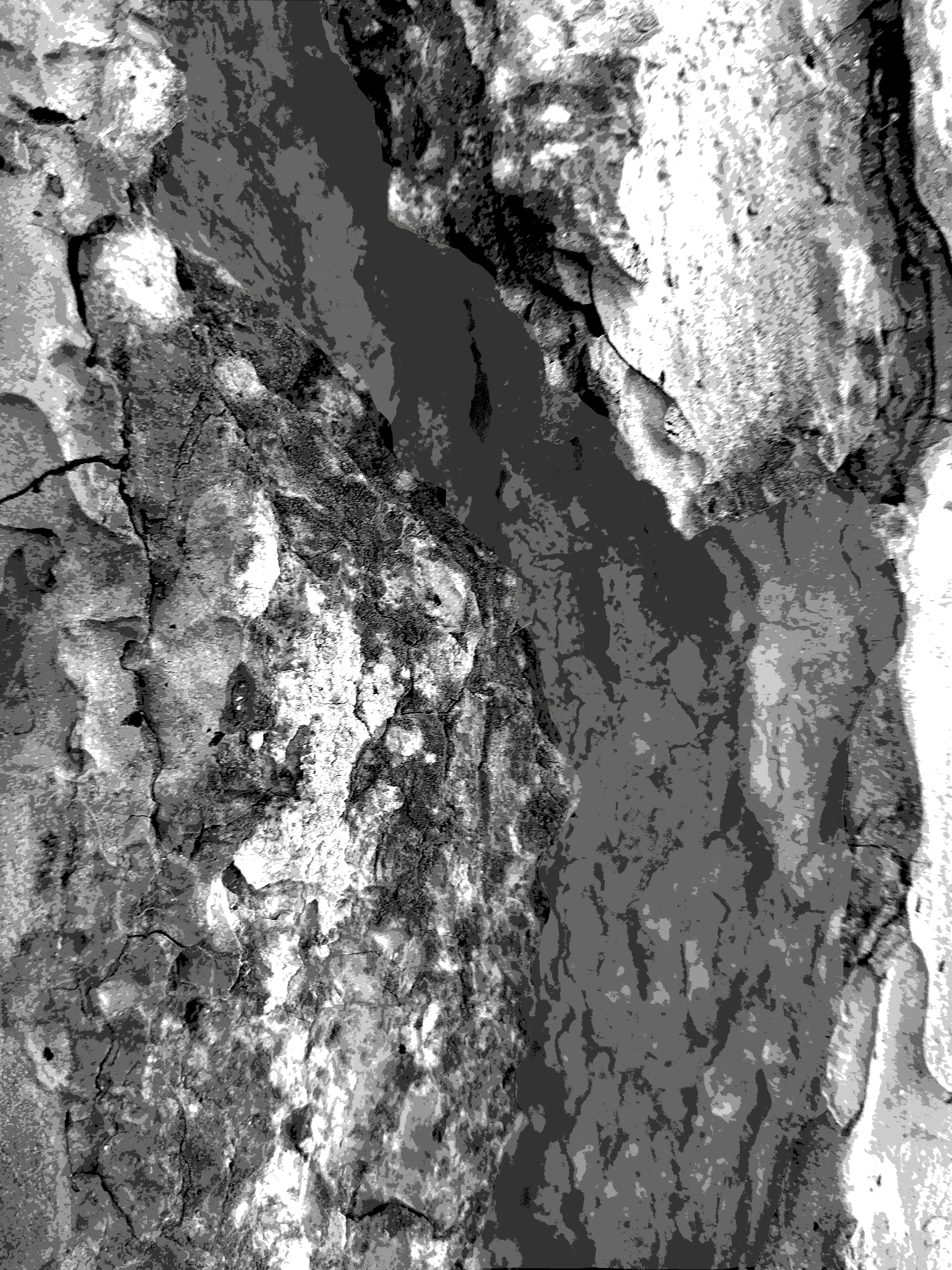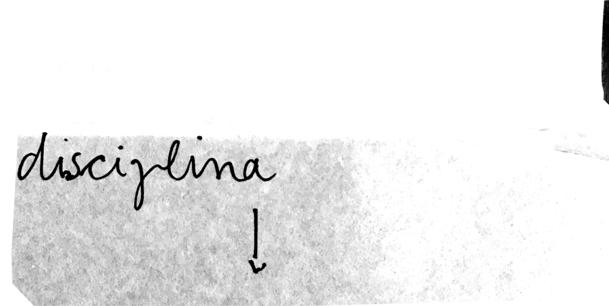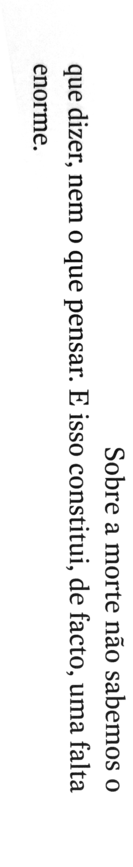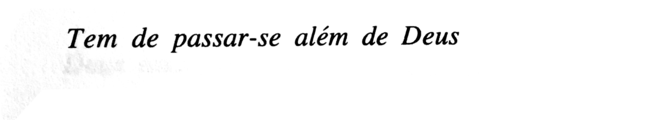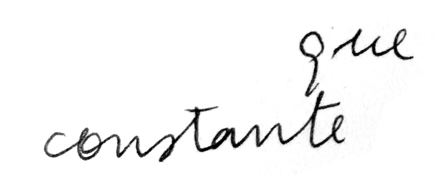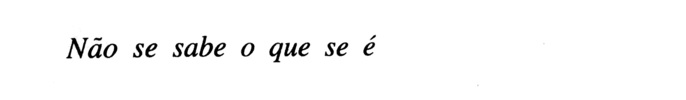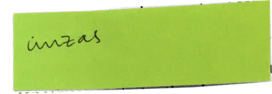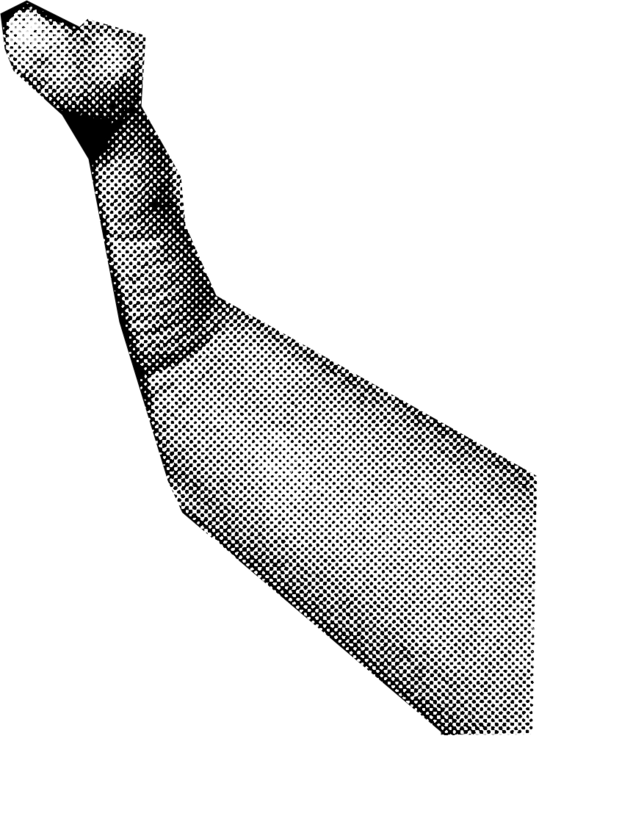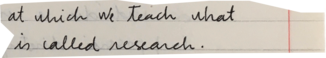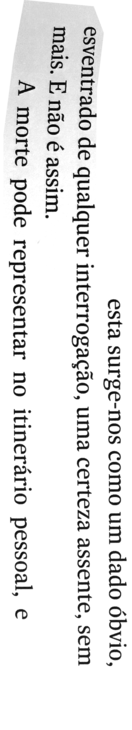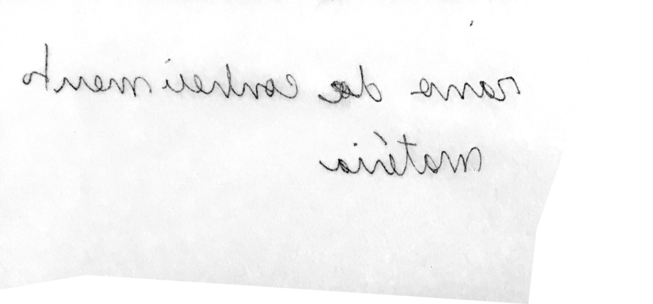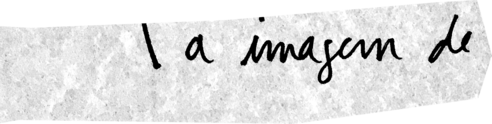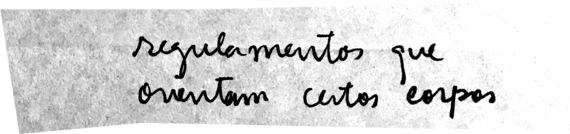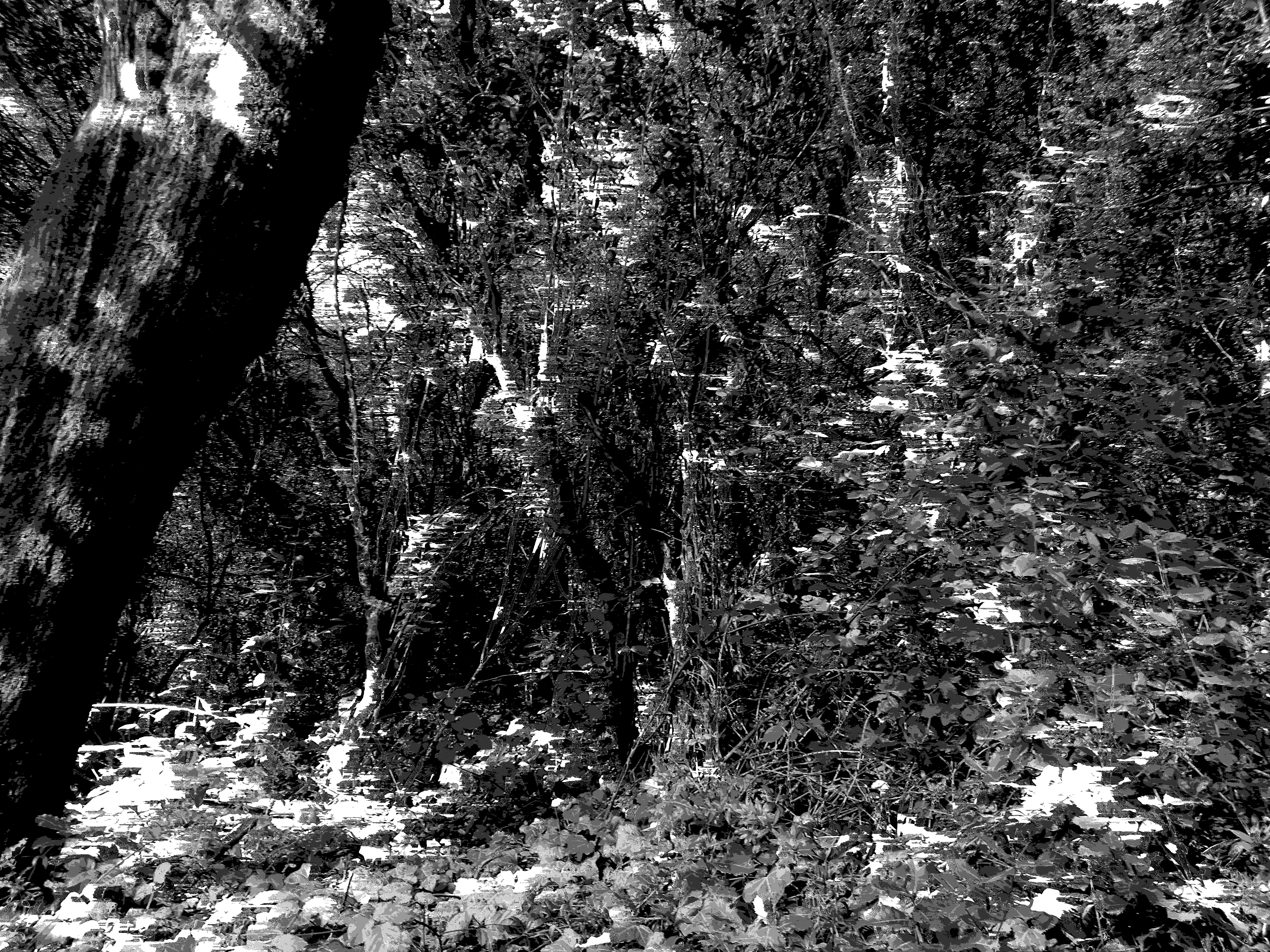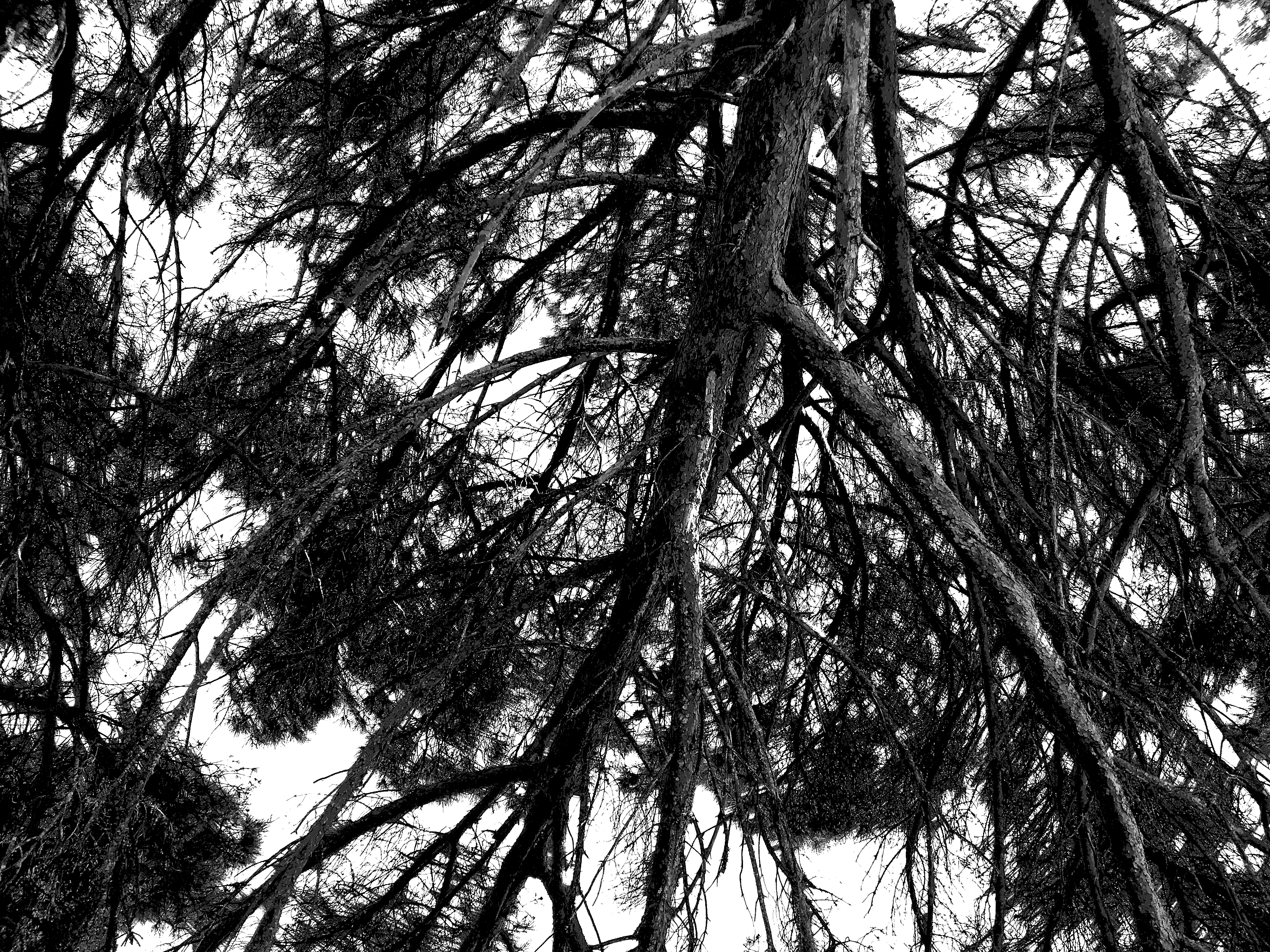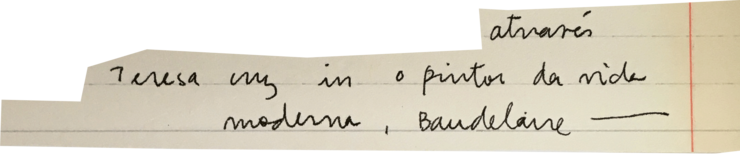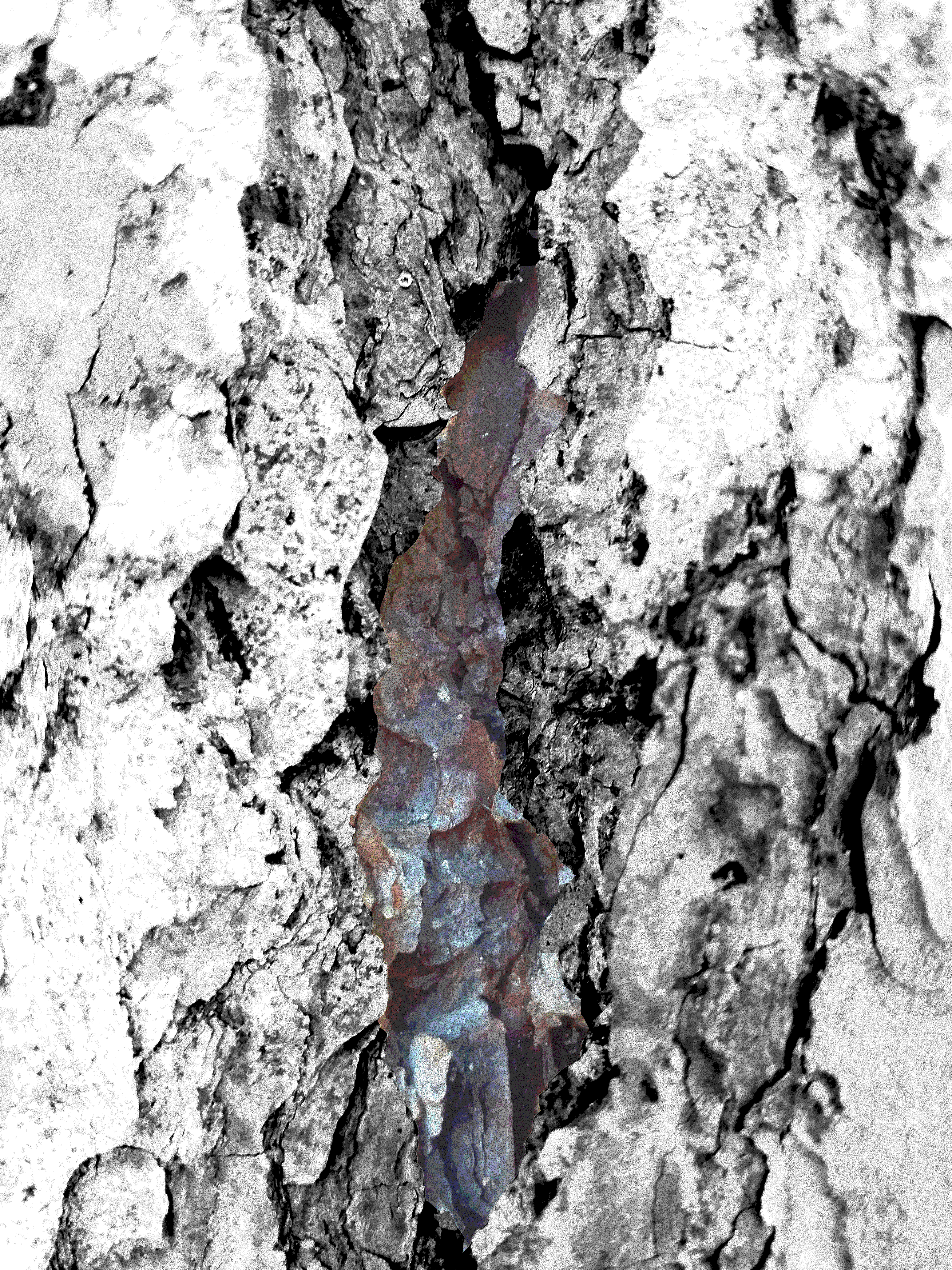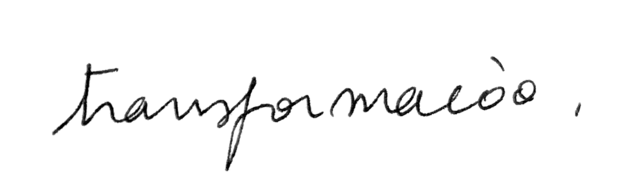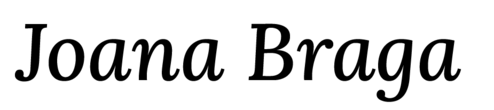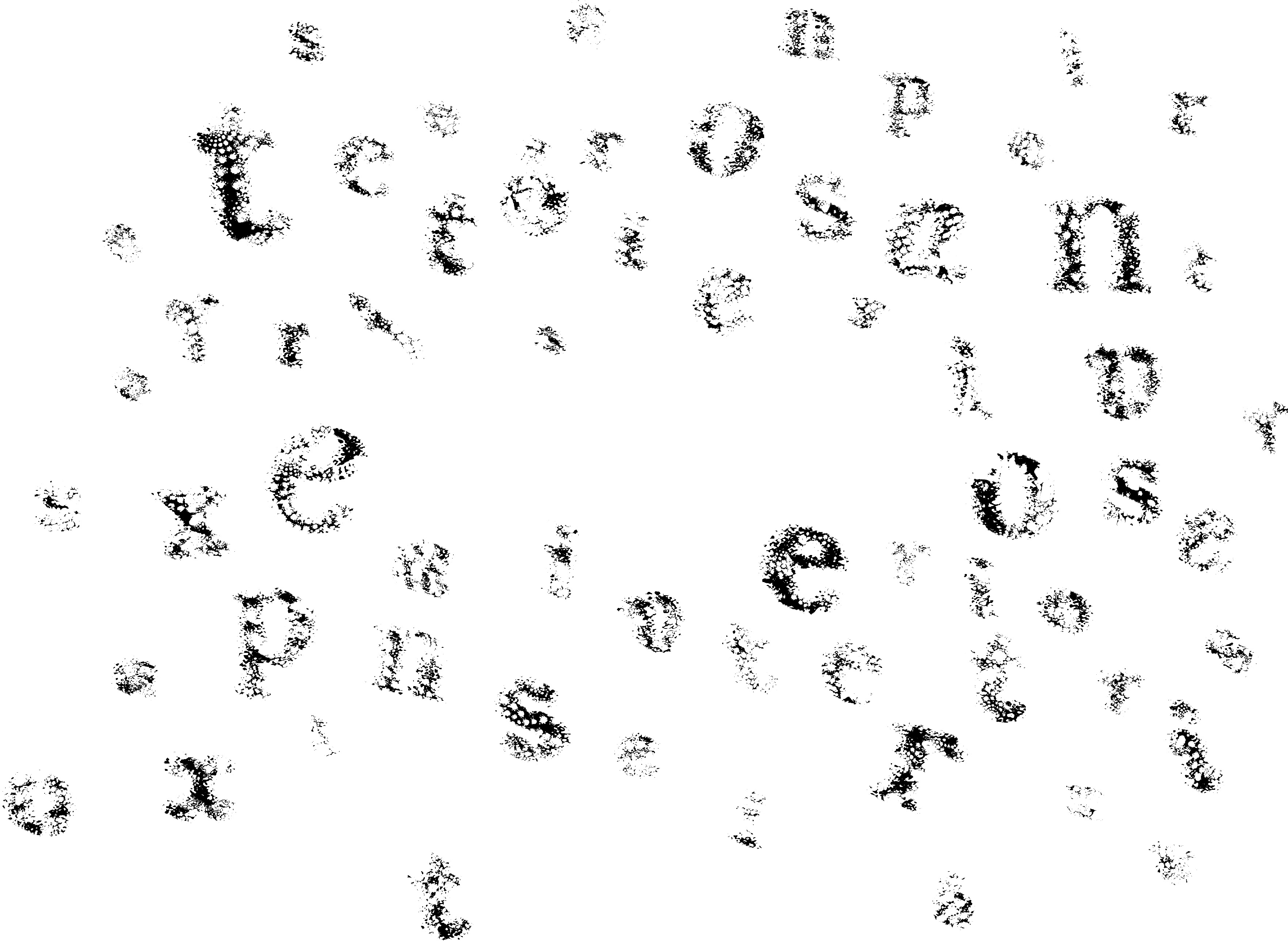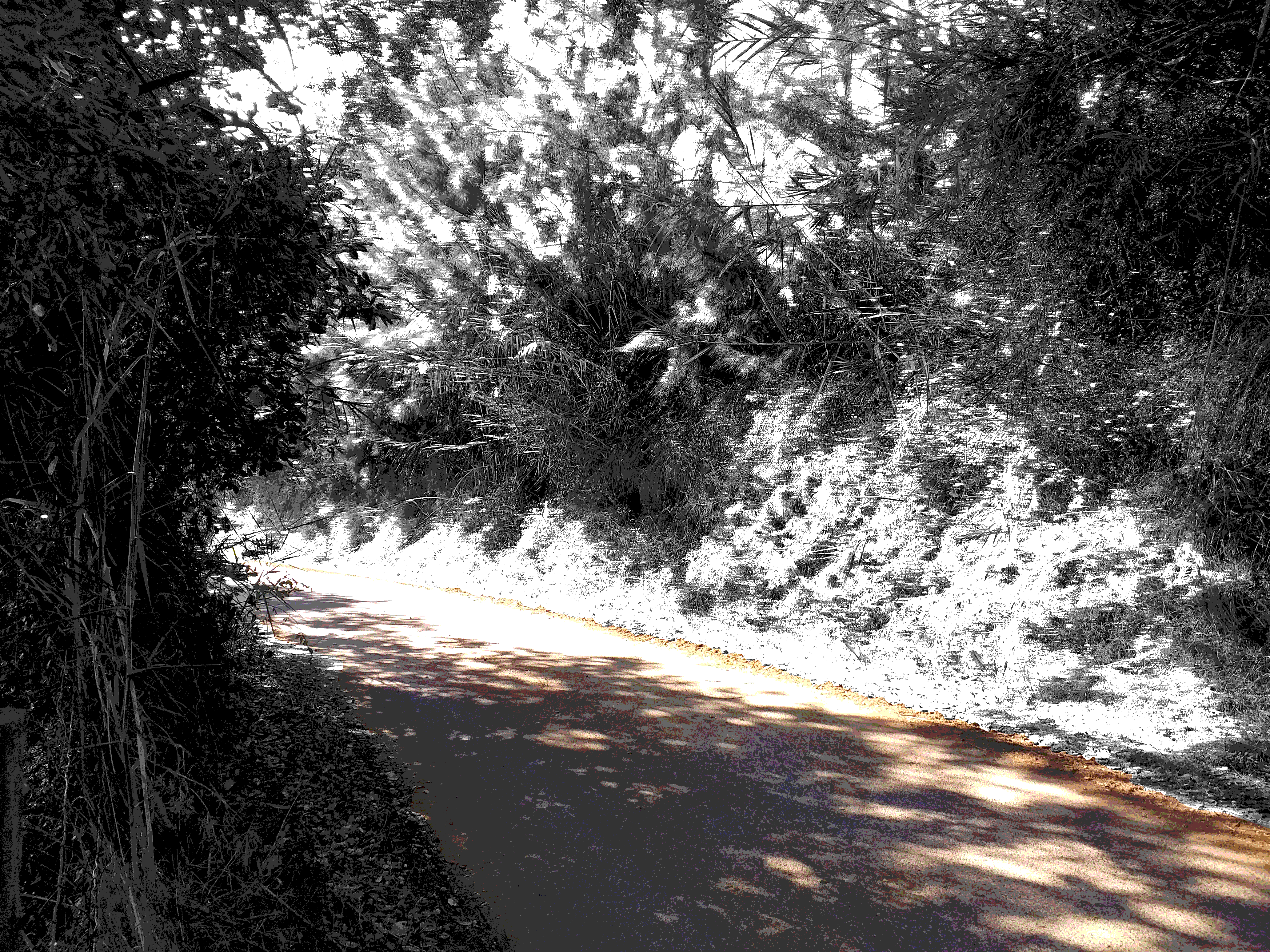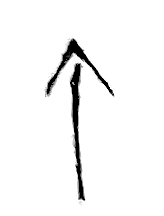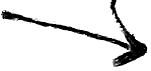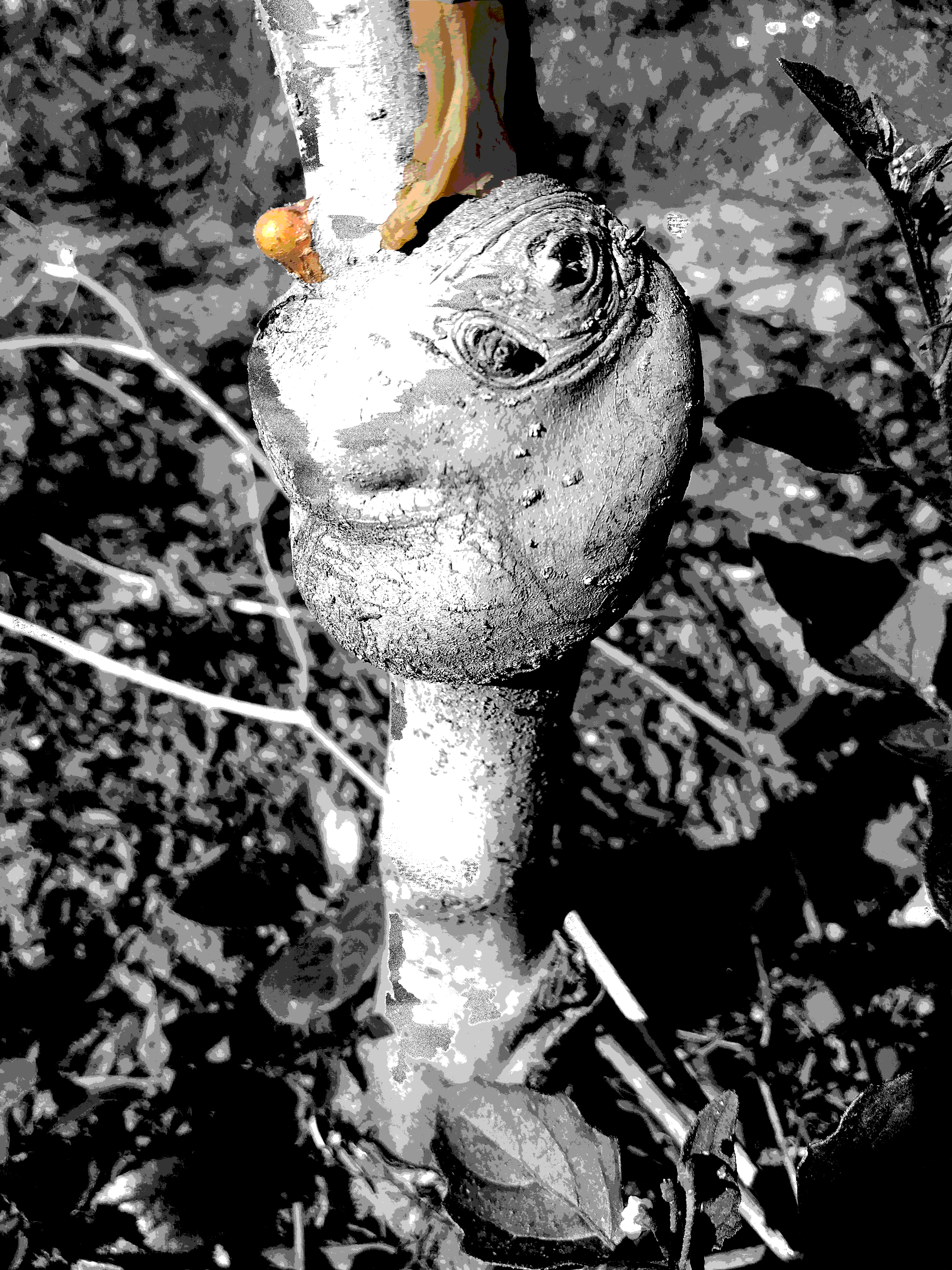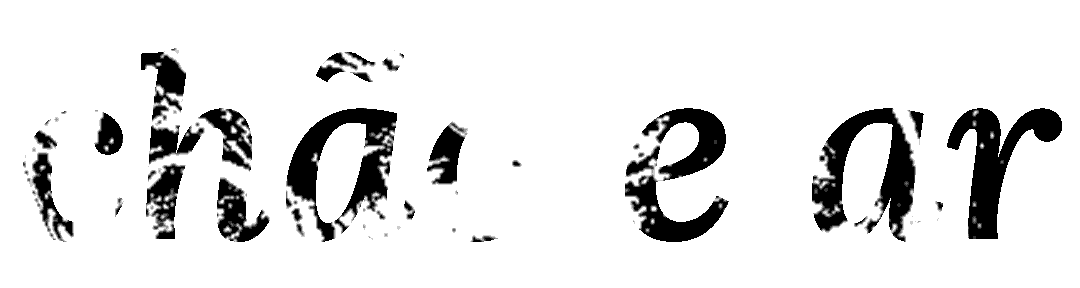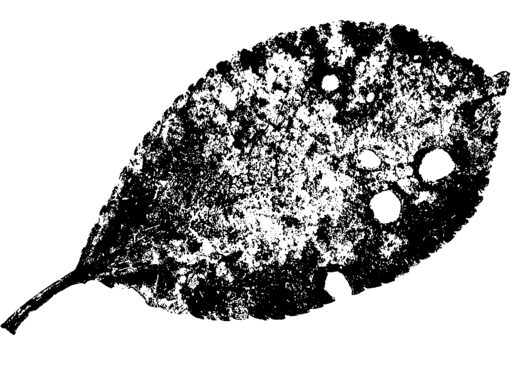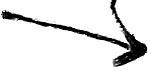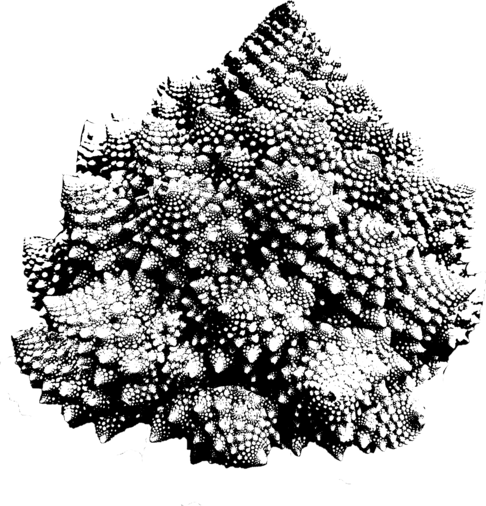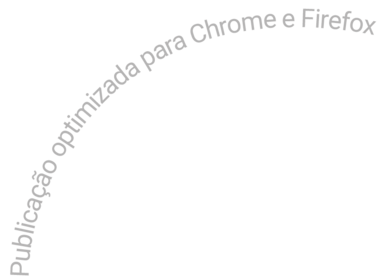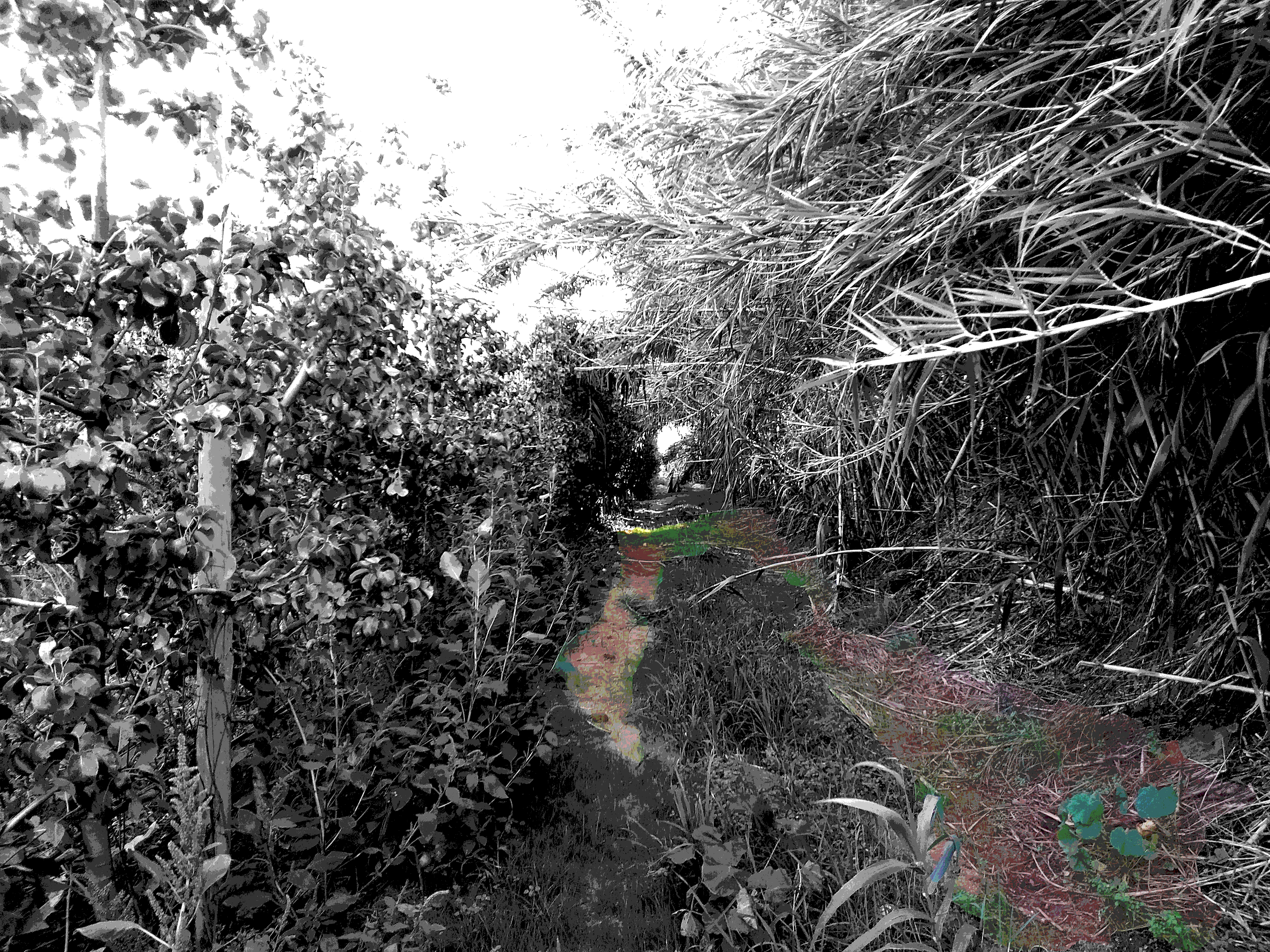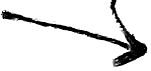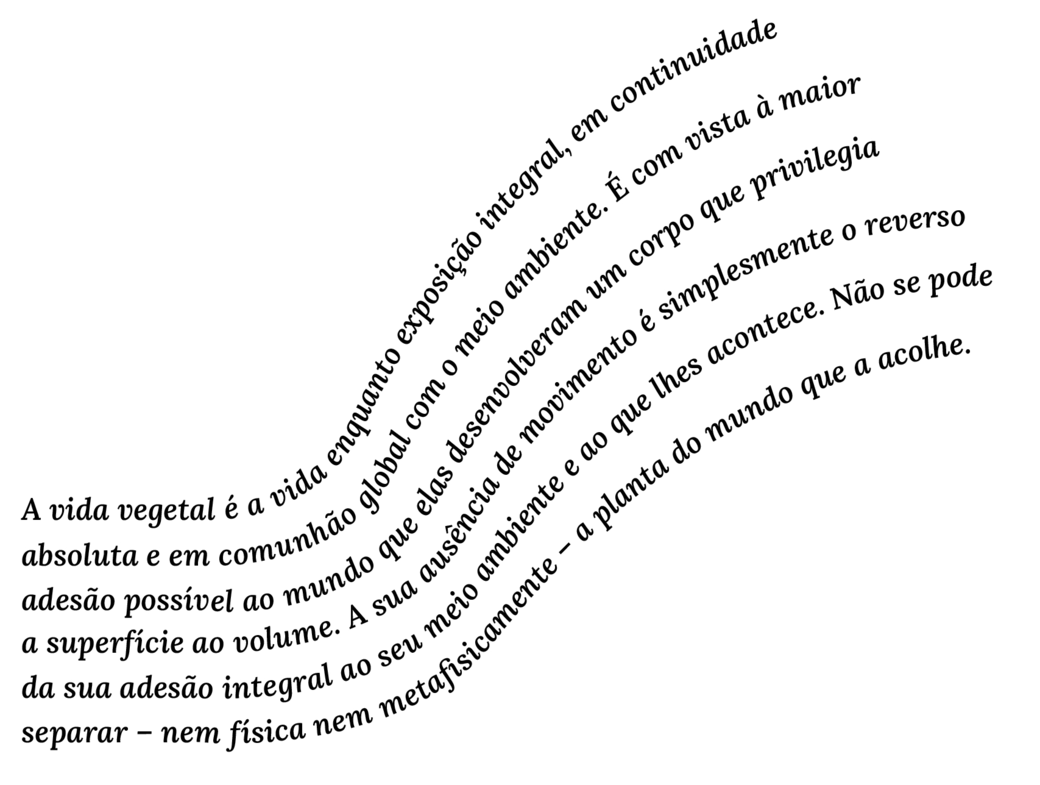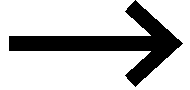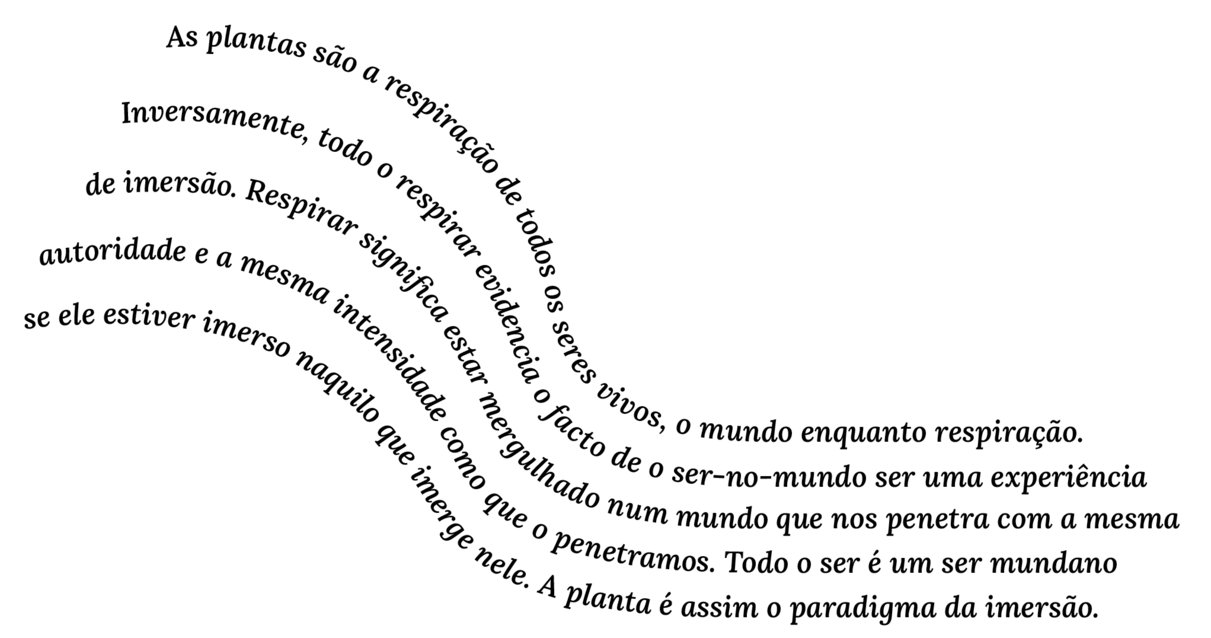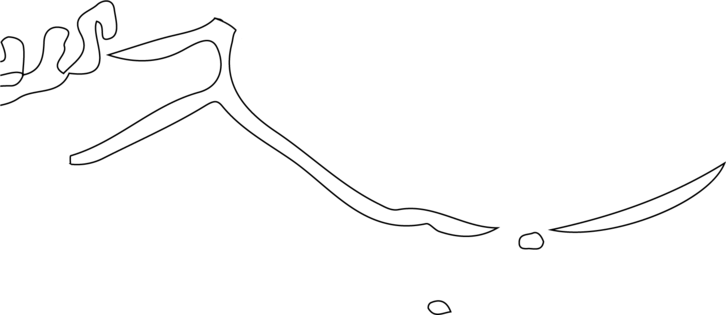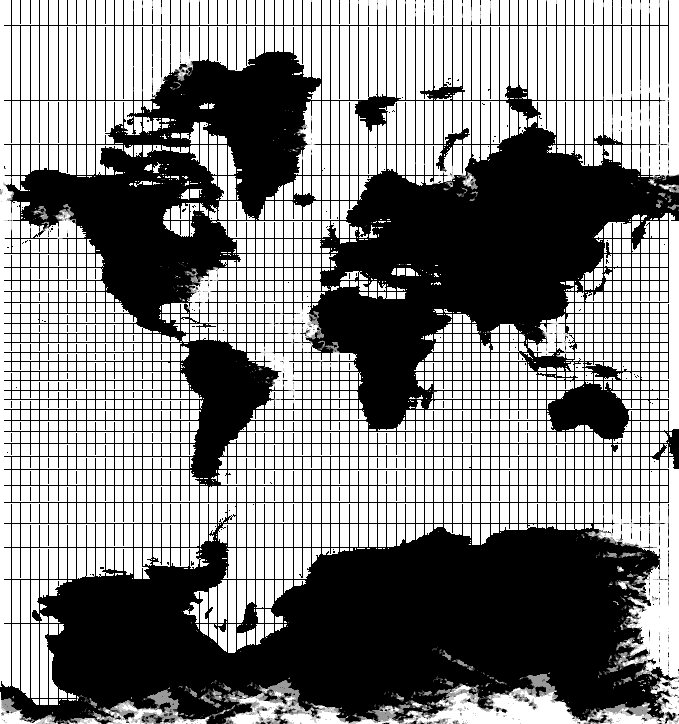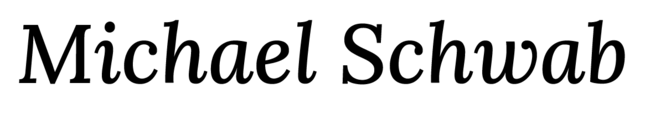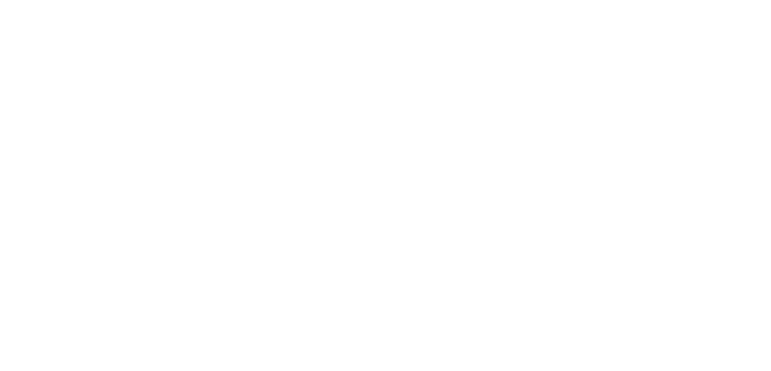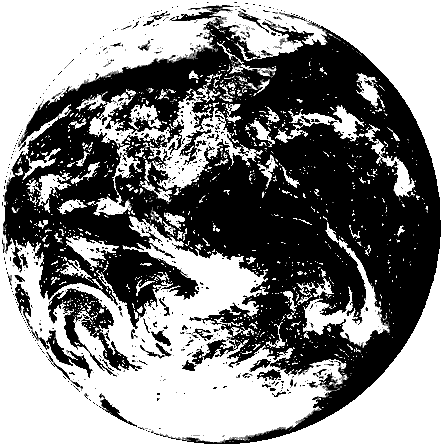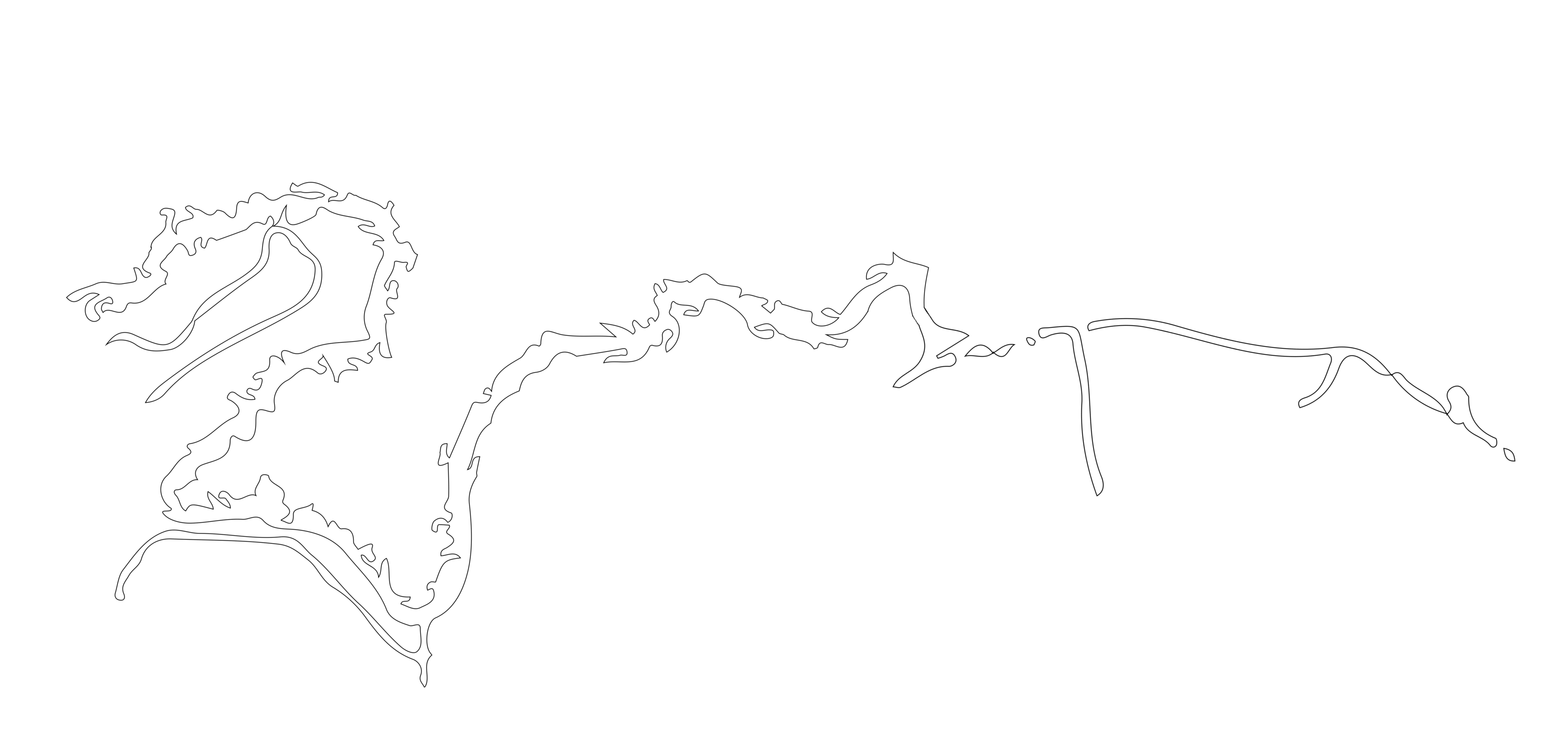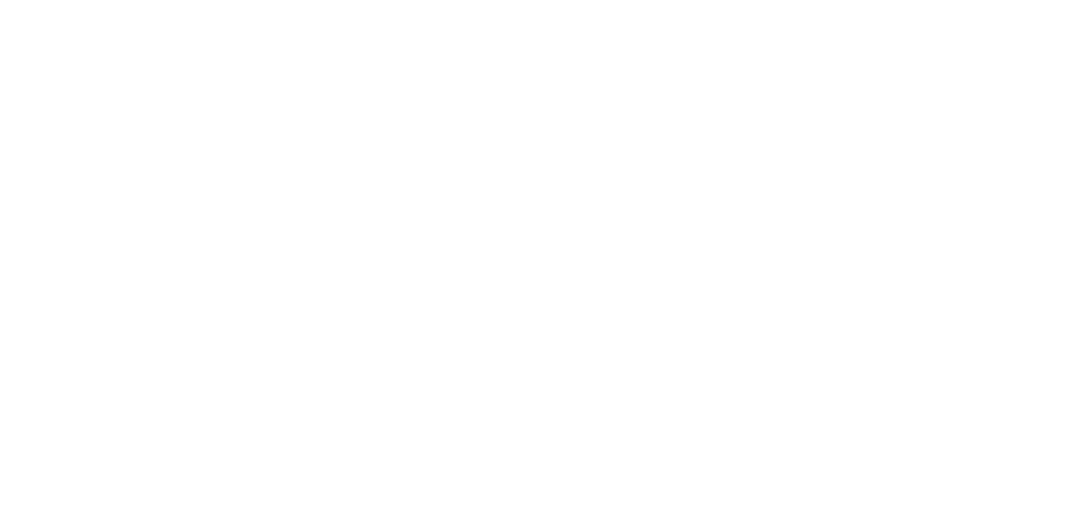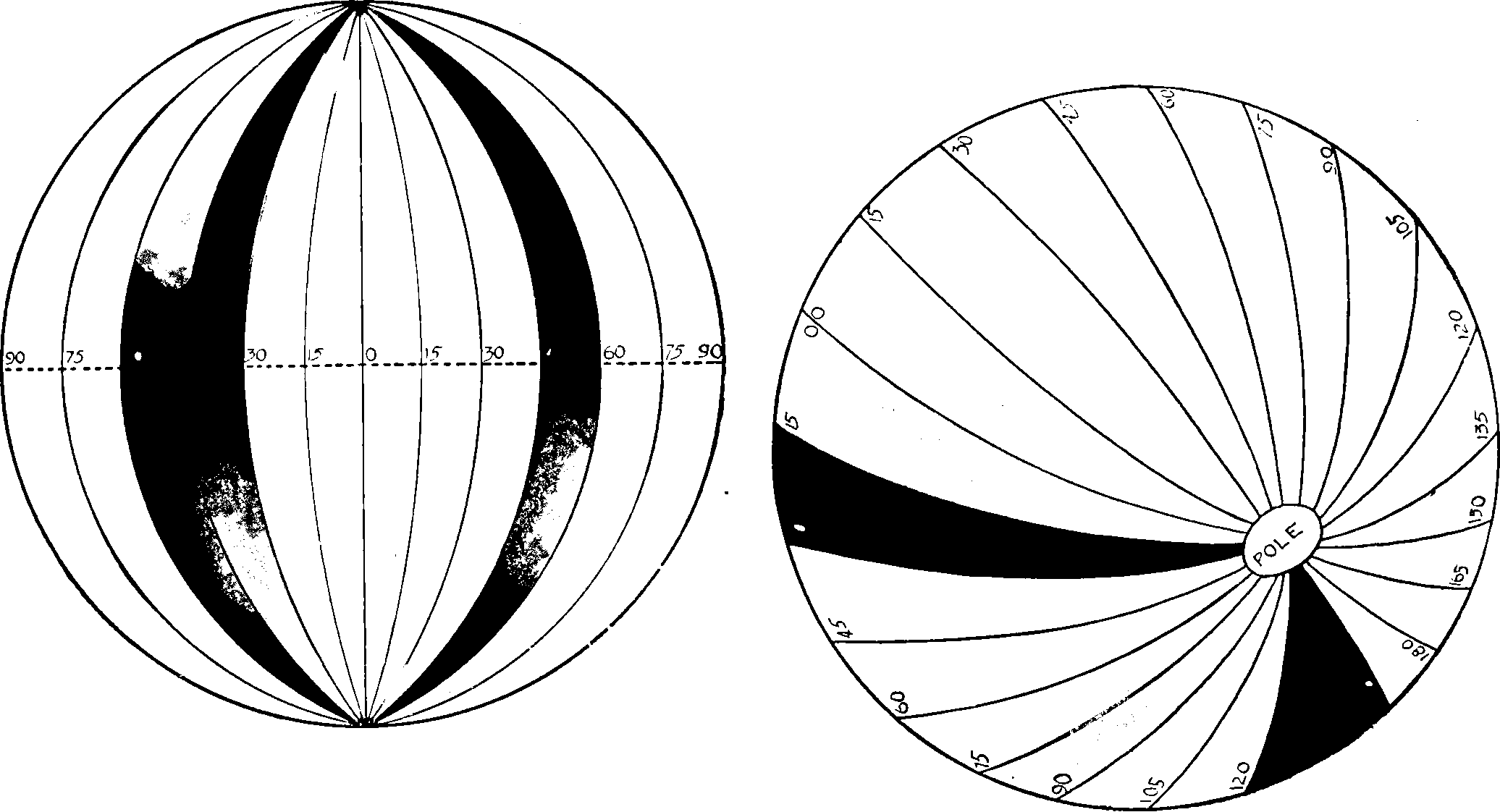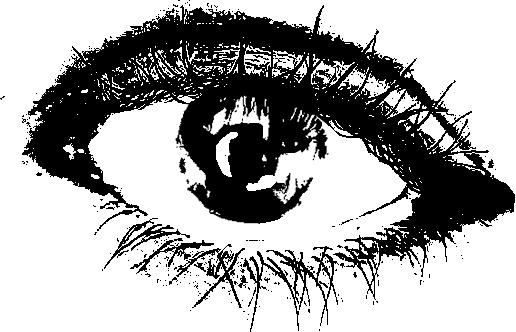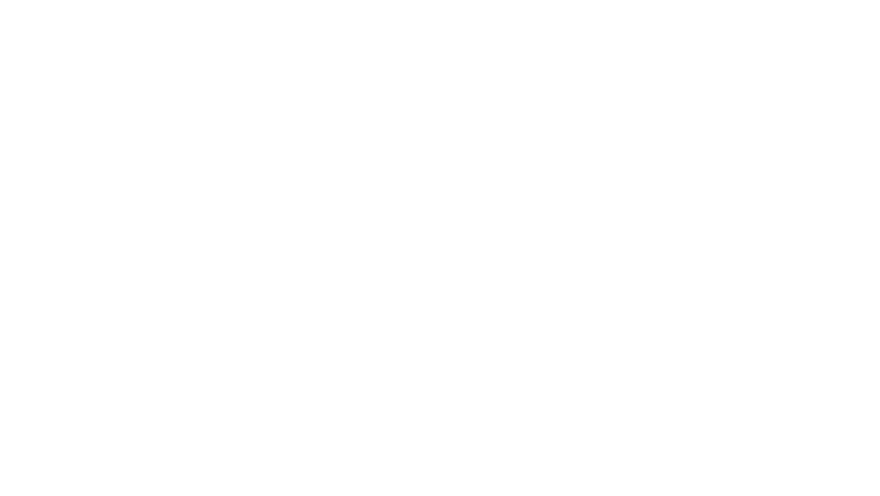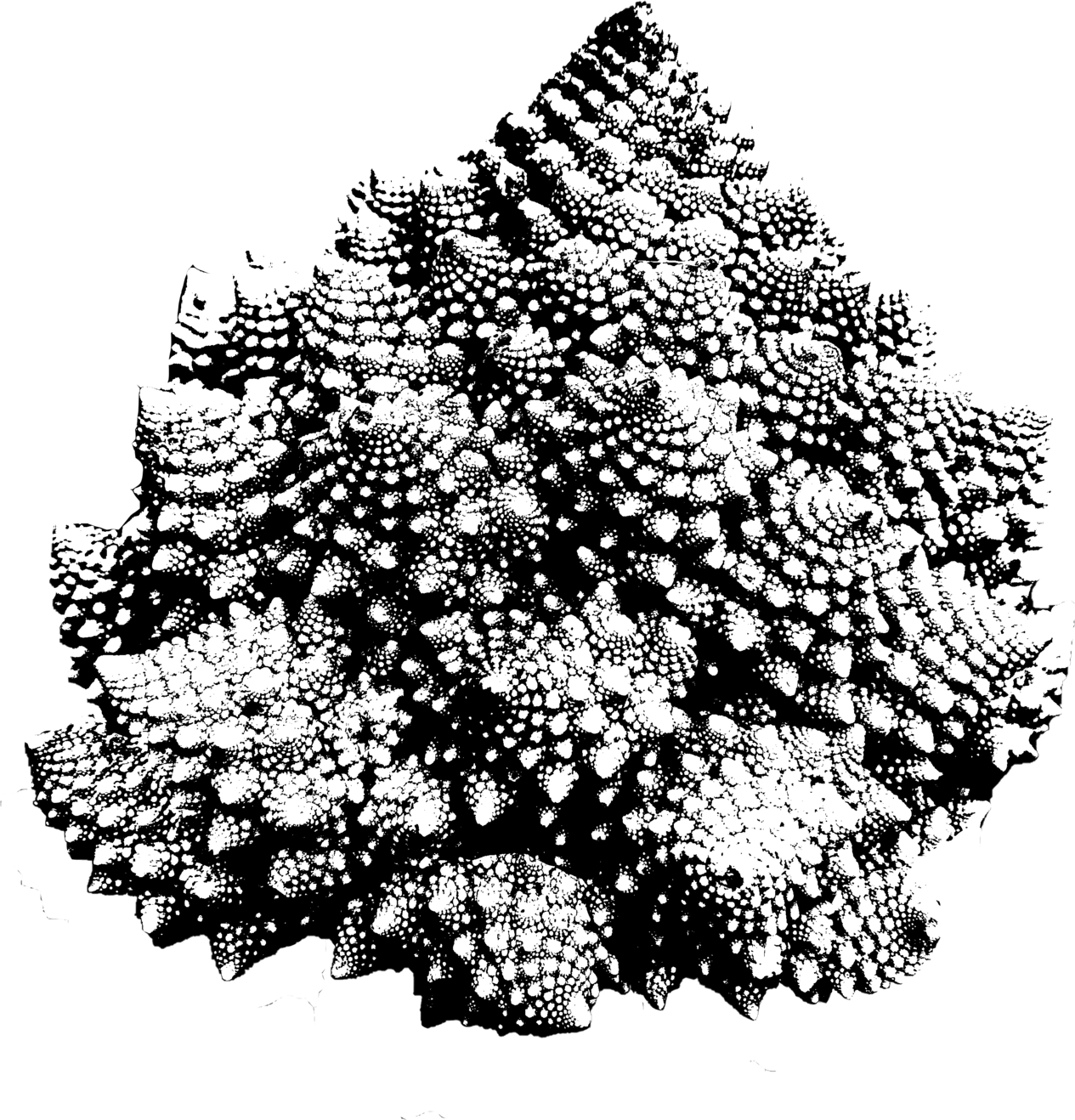Matilde Meireles
Matilde Meireles é artista sonora e investigadora,
e utiliza gravações de campo para compor projetos
de natureza situada. O seu trabalho tem uma abordagem
crítica e multi-sensorial ao lugar, onde investiga o potencial
da escuta transversal dos espectros sonoros como forma
de encontrar e articular uma experiência plural do mundo.
Estes vão desde as arquiteturas internas de juncos e ecologias
complexas da água, até à vizinhança local, ressonâncias em
objetos do quotidiano e a arquitetura dos sinais de rádio.
Ela explora com frequência a colaboração e a participação
como catalisadores para uma compreensão partilhada do lugar,
desenvolvendo projetos temporários ou de longo prazo.
O seu trabalho é apresentado regularmente na forma de
performances, instalações, publicações e projetos comunitários.
É doutorada em artes sonoras pelo Sonic Arts Research Centre, Queen’s University Belfast, e pós-doutoranda no projecto de investigação, Sonorous Cities: Towards a Sonic Urbanism
(SONCITIES) baseado na Universidade de Oxford.
A contribuição do Michael para esta publicação, refletindo
as ideias já mencionadas acima, trata da representação
paradoxal do conhecimento, através da ideia de um mapa
impossível, sempre fragmentado. “A única maneira de imaginar
o conhecimento hoje é aceitar que a representação se estilhaçou
numa quantidade cada vez maior de visões detalhadas,
mas limitadas.” Essas visões limitadas não cobrem a totalidade
do mundo, nem sequer são objetivas, pois resultam de uma
perspetiva particular, de um ponto de vista situado, “uma visão
de um corpo, sempre um corpo complexo, estruturante
e estruturado, versus a visão de cima, do nada, da simplicidade” (Haraway 1988, 589). “A junção de visões parciais”, visões de
um lugar particular “numa posição de sujeito coletivo” é o que
nos permite encontrar uma visão mais ampla (ibid, 590)
por entre os fragmentos.
Diferentes modos como podemos lidar com esta
fragmentação, são abordados ou apontados pelos quatro
ensaios aqui apresentados. Quatro territórios de diferentes
naturezas que apontam para uma compreensão semelhante
de conhecimento e criação. Quatro cruzamentos com o território
físico e operacional da OSSO. Fragmentos de textos, ideias, excertos, citações, imagens, imagens de excertos, excertos
de imagens. Mapas parciais, vistas parciais, traços de pensa-
mentos, passeios, caminhos e plantas.
Desafiámos a Joana Braga a mergulhar no território onde
a OSSO está situada e a criar um ensaio a partir dessa
experiência. A Joana passou diferentes períodos de residência
na OSSO, experimentando e desenvolvendo relações com
o coletivo, a aldeia, a terra envolvente, as suas pessoas
e as suas plantas. Um processo situado que realmente tomou lugar
e se expandiupara uma série de projetos futuros e colaborações com
membros da OSSO. O texto da Joana reforça a ideia do Michael das
“visões detalhadas” com a imersão de Benjamin nos detalhes
do mundo. Fragmentos que são trechos que são enxertos
que se tornam novos fragmentos.
Teresa Luzio mora perto da OSSO e pôde estar fisicamente
presente no nosso espaço para uma residência de cinco dias
em outubro de 2020. Estar presente foi significativo para
o desenvolvimento das suas ideias. O seu projeto de investigação
atual passou por uma transformação impulsionada pelo novo
contexto que encontrou: um espaço de residência em ambiente
rural, onde um coletivo multidisciplinar desenvolve atividades,
incluindo o programa de rádio Eira, onde foi convidada a apresentar. Nesta publicação, a Teresa oferece-nos o trabalho sonoro que apresentou na Eira, bem como um conjunto de fragmentos, vistas
detalhadas que se compõem num campo de combinações
possíveis, ou exercícios. Um território dinâmico feito
de retalhos incompletos, distribuídos irregularmente
no espaço, em distâncias variáveis.
Sara Morais, membro do coletivo, atravessou o nosso programa
em diversas ocasiões, trazendo as suas próprias visões detalhadas
e perspetivas singulares. Aqui propõe um conjunto de materiais transversais, derivados de experiências com filmagens de uma eira,
em preparação para um projeto diferente a decorrer durante as residências da Joana na OSSO. Essas curtas imagens em movimento pretendem cruzar os outros ensaios, e contaminá-los com novos vetores de desterritorialização. Esta eira, um intervalo na superfície
Diogo Alvim
Diogo Alvim trabalha entre a música e a artes sonoras,
explorando as suas interações com a arquitectura,
os contextos específicos, e as outras artes. Interessa-se
por expandir a prática da composição sonora enquanto
dispositivo de investigação e transformação.
Formou-se em arquitectura e composição em Lisboa,
e em 2016 terminou um doutoramento em composição
e artes sonoras no Sonic Arts Research Center da
Queen’s University Belfast. A sua investigação explorou
diferentes relações entre música e arquitetura.
Leciona artes sonoras na Licenciatura e no Mestrado
de Som e Imagem na Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) e é investigador
integrado do CESEM, FCSH-NOVA.
Colabora regularmente com artistas plásticos, sonoros,
coreógrafos e encenadores, em produções tão diversas
como instalações, video, dança, performance, percursos
performativos, e outros híbridos.
irregular da terra, revela as suas próprias irregularidades.
As rachas, os padrões de musgo, fungos e restos de plantas
soprados aleatoriamente pelo vento, compõem uma paisagem
ambígua que se confunde com uma vista aérea – uma escala
diferente que revela diferentes territórios quando mudamos
o nosso modo de ver.
Os alunos do Mestrado de Design Gráfico (ESAD), orientados
pelo professor e designer António Gomes, foram convidados
a reagir aos ensaios e a acrescentar mais uma dimensão à
publicação. Foi-lhes dada uma tarefa complexa, que visava
um design capaz de ampliar ainda mais o alcance dos ensaios.
O seu empenho e criatividade foi notável e gerou muitas respostas criativas para além das nossas expectativas. Embora apenas
uma proposta pudesse ser selecionada, todos os projetos
contribuíram para enriquecer as nossas próprias leituras e para
juntar as nossas visões parciais.
Tradicionalmente, a debulha era seguida pela joeira, processo
que consiste em lançar a mistura de grãos ao ar para que o vento separe o joio do grão.
Errático e transformador, o vento como sopro de territórios.
Teresa Luzio
Livros-artista, vídeos analógicos e fotografias são vestígios das suas performances, definidos por nenhum público presente, ou a sua presença é coincidência. O seu trabalho surge do que ela observa, seja um lugar, um objecto ou uma situação, para perturbar a sua configuração,
para se atravessar nelas como uma forma de vivenciar as coisas.
Teresa é graduada entre Portugal e a Alemanha. Tem um Mestrado em Arte Pública e Novas Estratégias Artísticas (Weimar) e um Doutoramento em Performance pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBA.UP). Leciona na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) desde 2008.
Sara Morais
Dedica-se à escrita, realização e edição em vários meios,
sempre investigando sobre som e visão.
Na rádio, realiza audio-documentários para a RTP/Antena 1 e 2, destacando Histórias de Rios.
Para televisão, pesquisa e realiza as séries Terra - histórias da cerâmica e Jóias, para que vos quero? emitidas pela RTP2.
Cria e edita conteúdos video e podcast para a comunicação
do Teatro do Bairro Alto e outras entidades culturais.
Colabora na escrita da longa-metragem Légua, realizada
por Filipa Reis e João Miller Guerra.
Publica o filme-livro desvio/padrão, com Joana Morais,
sobre a obra em azulejo de Maria Keil.
Estuda Cinema e Ciências da Comunicação na Universidade
Nova de Lisboa, passando pela ESTC e Maumaus.
Vive actualmente em Lisboa depois de ter vivido em Madrid,
no Porto e nos Países Baixos.
António Silveira Gomes
António Silveira Gomes, nasceu na África do Sul onde estudou Design Gráfico (1991-92) na Universidade de Joanesburgo (f. Witwatersrand Technikon). Terminou os estudos (1997) na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBA-UL) e co-fundou o estúdio barbara says... (c.1997). Doutorado (2017) em Arte Contemporânea (Estudos de Design) pela Universidade de Coimbra, é atualmente professor convidado da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria) e investigador do Laboratório de Investigação de Design e Artes (LIDA)-IPLeiria. Foi galardoado com um certificado de Excelência Tipográfica em 2010 e é membro da Alliance Graphique Internationale (AGI).
Ao trabalhar em estreita colaboração com instituições culturais nacionais e internacionais, artistas, editoras e projectos de desenvolvimento social, António tem vindo a alargar a sua prática profissional e académica, enquanto curador e autor de investigação, centrando-se em história da arte/design, cultura material, pedagogia do design, design editorial e cultura em rede.
O ensaio visual que apresento surge numa fase
temporalmente afastada do período da residência (Dezembro 2021). Resulta como uma necessidade
de atribuir visualidade, portanto dar a ver a infinitude da espacialização desse corpo e de partes dos textos dos livros.
[/] Já na fase final da residência desenvolvi uma peça sonora, que materializa uma possível relação entre [\][/] os livros, determinada pelo encontro entre o meu corpo e os seus diferentes conteúdos.[\]
[/] Das várias disposições dos livros, pelo chão cor
de laranja e sobre os plintos de espuma cinzentos,
a minha deslocação pelo espaço foi sendo deter-minada pelas várias possibilidades de leitura dos livros, e [\]
Rita Oliveira
Licenciada em Design Gráfico e Multimédia, pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria), encontra-se
a terminar o Mestrado em Design Gráfico, na mesma instituição.
O seu foco dentro da área do design gráfico recai no uso do analógico como complemento ao trabalho digital, aplicando este pensamento no projeto que está a desenvolver atualmente na sua dissertação acerca
da representação de narrativas feministas e queer..
Quando não está em frente ao computador, podemos encontrá-la
em feiras à procura de publicações para adicionar à sua coleção
em crescimento.
[/] Na minha chegada ao lugar fui distribuindo livros pelo espaço que[\]
[/] me foi concedido, livros trazidos dentro
de uma mala de viagem que estavam
no meu atelier à espera de serem lidos,[\]
[/] Desses breves passeios fui trazendo para
o interior elementos naturais que fui encontrando, colocando-os em relação com algumas páginas dos livros.[\]
O microfone, eixo fixo no espaço, é o meio pelo qual é possível ouvir, e assim compor uma imagem mental da espacialização desse corpo e conteúdos.
[/] das imagens nos livros, das quais reconheci relações improvisadas entre os conteúdos,
e deste processo foram surgindo imagens mentais que fui anotando em paralelo.[\]
As leituras foram sendo pausadas por passeios pelo
território natural circundante, que o sol por entre
as chuvas foi possibilitando.
[/] Durante cinco dias (Outubro 2020) integrei a residência de investigação artística “Territórios Expansivos”, organizada pela associação OSSO (São Gregório, Caldas da Rainha).[\]
[/] em torno de assuntos que investigo na minha prática artística e docente (ESAD.CR), tais como: movimento, imagem, incorporação, Arte, o que significa ensinar “Arte”, o que é suposto ensinar em “Arte”,
e sobre a importância do currículo de uma disciplina.[\]
[/] Reconheço neste projecto o princípio de um método assente nas relações entre prática artística como pesquisa e prática docente, destinada a encontrar meios de transcrição visual, sonora ou espacial, ligadas ao processo criativo.[\]
[/] Mas não só.
O ensaio E(n)xertos é composto por pequenas secções (fragmentos ou excertos) ao longo dos quais a leitura pode deambular, eventualmente seguindo várias trajectórias. O fragmento inicial e o final são sempre os mesmos.
Quando se encontra um lugar que as referências
incorporadas não ajudam a descodificar, sentimo-nos
estrangeiras. Uma distância invisível nos separa inicialmente
dos seus ritmos, da sua textura, da sua arquitectura.
A Osso fez-se casa assim que cheguei, encontrei
S. Gregório como estrangeira.
Saí em busca de um café.
Bati o portão azul e segui na direcção do reclamo pregado
a um poste à beira da estrada, talvez de uma antiga
paragem de autocarro ou camioneta, com a imagem
de uma chávena marcada com o símbolo delta.
Do outro lado do poste, nada do dito café, apenas
um pequeno relvado privado. Continuei a busca,
subindo a rua pelo alcatrão, na ausência de passeios.
Um descampado rompe a linha de casas permitindo
alargar o horizonte. Várias máquinas paradas, um cão
à sombra de um chapéu-de-sol, um amontoado
de pequenos pedaços de madeira sob uma estrutura
improvisada.
Vende-se lenha, pode ler-se.
Na profundidade da cena desdobram-se os campos,
uma composição de rectângulos de terra nua
e polígonos geometricamente configurados pela
sequência de linhas de árvores de fruto.
Continuo a
A rua, que é estrada, parece agora desenvolver-se
entre duas muralhas feitas de pedra e betão:
as casas que se seguem umas às outras.
Não encontro ninguém, o café está fechado.
Pelas brechas da muralha construída percebo
a extensão das encostas vegetais.
Avanço uns passos pelo beco inclinado.
Não é só a visão que se espanta, a paisagem sonora altera-se rapidamente, os aromas também.
[/] Abrandei a passada ao aproximar-me do grande
pinheiro manso que sobranceia os pomares
e campos cultivados, estendidos até ao horizonte
longínquo. Sentei-me ao seu lado, debaixo da sua
sombra, sobre uma pedra.
Olhei deste alto a paisagem estendida defronte,
surpreendida com as suas geometrias vegetais.
Um padrão reticulado de campos moldados pela
topografia, as linhas de macieiras plantadas a distâncias
constantes curvando-se pelas encostas, pequenas
ilhas de grande densidade vegetal de várias tonalidades
ou de uma massa verde escura, o bosque que sobrevive
e o eucaliptal que o substitui. A visão coloca-nos perante
o mundo que se desdobra à nossa frente.
Volto a sentir a distância entre mim e o lugar.
A dimensão estética desta paisagem resulta do labor
humano direccionado para a produtividade agrícola.
Estas macieiras são objectos de produção em massa,
submetidas a um controlo rigoroso do seu crescimento
para facilitar a apanha da fruta. Mas são elas as vidas
sencientes que aqui predominam, desenhando esta
paisagem magnífica. Embora, a esta distância, o lugar
expresse a relação instrumental estabelecida
pelos humanos com as plantas, de outras perspectivas
emergirão outros entrelaçamentos.
Como será este mesmo lugar percepcionado
pelas macieiras? Ou por este solitário pinheiro manso?
Voltei a atenção para o tronco do pinheiro
que me faz sombra, para a pedra que me sustenta,
atentando às suas texturas. Reparar nos pormenores,
conferir ao olhar uma qualidade táctil e usar o corpo
para reconhecer o meio. Mergulhar de novo.
Saboreei o odor que o grande pinheiro
emana sem encontrar as palavras certas para o descrever.
Como se traduz um cheiro em palavras?
O cheiro é a presença de um outro em nós.
Uma presença vívida que impressiona os sentidos,
que nos altera a cada inalação. Será o cheiro uma forma
particular de encontro?
Permaneci perto do pinheiro
algum tempo, procurando uma forma de o perceber
na sua singularidade. Solitário, imponente, enraizado
num pedaço de terra ruiva na margem da estrada.
Talvez as suas raízes, no interior dessa terra rubra,
encontrem outros seres. Talvez não seja, afinal,
um indivíduo solitário. A sua imensa copa feita de uma
teia de ramos de diferentes espessuras e de miríades
de folhas em forma de agulha sobrepõe-se às últimas
macieiras plantadas na encosta e, do lado oposto,
cobre toda a estrada. Cobre o meu corpo, oferecendo-me
a sua sombra. O largo tronco de casca rugosa apresenta
algumas reentrâncias verticais, fissuras tecidas de lâminas
texturadas justapostas, marcas da duração da sua vida.
Pressiono uma mão na sua casca
e movimento-a, deixando-me arranhar.
Como percepcionará a minha presença?
[/] Ao fundo do pequeno caminho que parte
do portão traseiro da oficina, quase ocultado
pelas ervas, encontro um terreiro circular cimentado.
A duração cíclica das estações parece estar inscrita
nesta superfície negra marcada por uma composição
de manchas claras. As descolorações do cimento,
como uma cartografia dos acontecimentos da vida
desta eira: os sucessivos molhos de cereais que ali
se reuniram, os movimentos de quem os malhou
e peneirou, as brincadeiras das crianças, a água
da chuva infiltrada ao longo de anos alimentando
o germinar das ervas que agora derrubam o cimento,
fissurando-o. Um intenso aroma anuncia a presença
de uma linha de eucaliptos logo à frente.
(CRACK, CRACK).
CRACK,
O ritmo do caminhar gera uma espécie
de ritmo do pensamento, que por sua vez
ecoa os ritmos da paisagem que atravesso.
A oscilação dos arbustos embalados pelo vento,
as vozes dos pássaros ora poisados na folhagem
ora esvoaçando no ar, o pequeno estalido das
bolotas que caem no chão forrado de caruma
(PLOFF,
PLOFF,
PLOFF).
Relembro uma frase de Rebecca Solnit na sua história
da caminhada, Wanderlust.
«O percurso através de uma paisagem
ecoa ou estimula o percurso
através de uma série de pensamentos.
Isto cria uma consonância ímpar
entre o percurso interior
e o exterior,
uma consonância sugestiva de que
a mente é também
um tipo de paisagem
e que caminhar é uma forma de
a atravessar».
O movimento do corpo, assim como os pormenores
sensíveis do meio que percorremos, ou melhor,
do meio em que estamos imersas, colocam em
movimento o pensamento, reflectindo de miríades
de formas a facticidade dos espaços, dos seres
e das coisas que connosco partilham o mundo.
Por momentos, desfazem-se as fronteiras entre
interior
e exterior,
o balanço desta erva faz estalar a omoplata
e este estalido
(CRACK, CRACK).
CRACK,
parte também da voz dos pássaros.
Já não sou estrangeira na aldeia, misturo-me com este lugar e com os seres que o habitam.
Continuo na sua direcção e chego à estrada.
Caminho com uma passada larga, balançando
o peso do corpo entre uma perna e a outra,
oscilando, a cada vez que uma perna avança,
o braço oposto.
Sinto os dedos dos pés pressionarem o asfalto,
os músculos das barrigas das pernas a estirar;
as omoplatas estalam baixinho com o balanço dos braços
[/] Movo o corpo num ritmo constante,
imersa na atmosfera vegetal daquele lugar,
atenta às suas modulações. Ao caminhar
percebemo-nos a nós mesmas e ao espaço
em que estamos mergulhadas nas interacções
que vamos tecendo enquanto nos movimentamos.
Ao fim de algum tempo os sons que escuto
começam a confundir-se: os pássaros, o resfolegar
das folhas, a máquina agrícola que trabalha
ao longe, a grande arca frigorífica ao fundo
e os meus passos deixam de se distinguir.
Misturam-se numa composição de fluxos
em movimento nos quais estou mergulhada
e implicada. Junta-se-lhes um som cavo,
vindo das minhas costas, com uma intensidade
crescente à medida que se aproxima. Curiosa,
viro o corpo na sua direcção
e vejo um enorme besouro no meu encalce.
Saio da estrada e resguardo-me entre
as ramagens dos grandes arbustos na berma.
O som que produz este ser atordoa-me
e assusto-me com o seu movimento.
Só alguns segundos mais tarde, como se despertasse
de um sonho, percebo tratar-se de uma máquina
motorizada que circula na estrada. Num gesto rápido
de compostura,
aceno com o braço ao seu condutor.
Soube depois tratar-se de um veículo que pulveriza
os pomares com fungicidas.
Perguntei-me a razão da sua forma «besouromórfica».
[/]
Enxertia
A enxertia consiste em fazer desenvolver sobre
uma parte de uma planta, à qual se chama
cavalo, porta-enxerto ou hipobionte,
uma outra, chamada
enxerto ou epibionte,
da mesma espécie ou de outra espécie próxima.
Só resulta se os tecidos vasculares de ambas
as partes se unirem e crescerem em conjunto.
Nas plantas enxertadas, o sistema radicular
pertence ao porta-enxerto e a parte aérea
ou pertence ao enxerto ou é partilhada
entre este e o cavalo.
A enxertia é uma forma de reprodução assexuada das plantas.
Em Manual de Botânica de Carlos Aguiar
Enxerto
latim inserto
nome masculino
[Botânica] Operação através da qual se introduz uma parte de um vegetal no tronco ou ramo de outro vegetal para nele se desenvolver.
[Agricultura] Parte da planta que se enxerta noutra, por exemplo borbulha, garfo ou lançamento.
[Agricultura] Planta que recebeu parte de outra planta que nela se vai desenvolver; planta enxertada.
[Cirurgia] Operação que consiste na transferência de um tecido, órgão ou parte dele para outra parte do corpo do mesmo indivíduo ou para outro indivíduo (ex.: enxerto capilar). = TRANSPLANTE
[Cirurgia] Fragmento de tecido ou órgão que se enxerta. = TRANSPLANTE
[Figurado] Coisa que se juntou a outra para um fim qualquer.
[Figurado] Pessoa sem préstimo ou importuna.
[Portugal: Algarve] Indivíduo mal vestido ou com má apresentação.
[Informal, Figurado] Sova, pancada (ex.: ameaçou dar-lhe um enxerto se ele não fosse embora).
Em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
Excerto
latim excerptum, -i
nome masculino
Parte retirada de uma obra. = extracto, passagem, passo, trecho
Adjectivo
Extraído.
Em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
Territórios Expansivos é o tema subjacente
a um programa de atividades de investigação
artística desenvolvido pela OSSO - Associação
Cultural, e coordenado por Diogo Alvim e Matilde
Meireles desde janeiro de 2020, que culmina
nesta publicação, acolhida em parceria editorial
pela Cátedra Unesco em Gestão das Artes
e da Cultura, Cidades e Criatividade
do Politécnico de Leiria. Trata-se de
um pequeno projecto editorial que
procura estabelecer relações entre
diferentes perspectivas e modos de
operação em investigação artística bem
como entre diferentes instituições.
[/] Toda a minha atenção se concentrou
nas vincadas cicatrizes das macieiras.
No magro tronco, na proximidade da zona
em que este aflora da terra, a presença
de uma desproporcionada excrescência
de contornos curvilíneos irregulares.
Como se de todos aqueles jovens corpos
vegetais tivessem emergido tumores inchados,
alguns deles fissurando a pele e expondo
os tecidos das suas entranhas. Espantada,
observava como os caules continuavam
a elevar-se acima das excrescências com
intensidade e como as árvores floresciam
e frutificavam, imersas na luz. As formas que
me perturbavam seriam cicatrizes de algum
acontecimento violento na vida destas plantas,
violência que não interrompeu o seu desenvolvimento,
produziu antes estas formas monstruosas
nos seus corpos multiformes. Mergulhando a atenção
e o corpo nos pormenores de cada um destes seres,
apercebi-me de fragmentos de uma espécie
de invólucro em borracha agarrados às pequenas
monstruosidades. Reparei que algumas cicatrizes
eram mais ténues: pequenas bossas, de onde,
além do caule vencedor que com intensidade
se dirigia ao céu, partia um pequeno galho
entretanto adormecido. As maçãs destas árvores,
aparentemente menos violentadas no passado,
tinham o tamanho de ameixas e frutificavam
em quantidades inesperadas. Teriam sido corpos
humanos a agir sobre estas macieiras com algum
propósito, deixando nos corpos vegetais estas
cicatrizes tuberosas, pensei. As plantas que carregam
excrescências menos evidentes são os seres
que frutificam de forma estranha. Como se algo
no seu desenvolvimento tivesse sido desviado.
A acção humana sobre estes seres vegetais
não teve o resultado esperado, imaginei.
Ignorando a concretude das técnicas agrícolas,
não compreendi tratarem-se das marcas de enxertia
que usualmente se utiliza no desenvolvimento
de árvores de fruto. A especulação, contudo,
estava afinada com as histórias destas vidas.
As formas tuberosas eram marcas resultantes
da mistura imposta pelos humanos nas plantas.
Cicatrizes do processo de união dos tecidos
vasculares de dois seres assim misturados,
lembrança da ferida aberta no corpo enraizado
onde se introduziu o e(n)xcerto que haveria de frutificar.
A OSSO é uma associação cultural e um coletivo
multidisciplinar que inclui artistas e investigadores
de áreas como música e arte sonora, artes visuais,
fotografia, performance, design, arquitetura e cinema.
Criada em 2012, a OSSO é financiada pelo Ministério
da Cultura e outras entidades não académicas.
Embora desenvolvamos parcerias com instituições
académicas, o nosso programa não responde
necessariamente aos constrangimentos das formalidades
académicas que por vezes condicionam a volatilidade
da prática artística, sobretudo em Portugal onde os meios
académicos tradicionais ainda não reconhecem
a dimensão prática ou experimental da investigação
que existe, por exemplo, nas residências artísticas.
O contexto de residências artísticas que criámos
em São Gregório, Caldas da Rainha, permitiu-nos
expandir para práticas abertas de investigação,
não condicionadas por produções tradicionais
ou modos de apresentação predeterminados e fixos.
Com o objetivo específico de compreender e ampliar
os processos de criação artística como investigação,
desenvolvemos o programa Territórios Expansivos
em torno de um conjunto de residências para
artistas/investigadores, mesas redondas, conversas
de rádio e um workshop. O principal objetivo do programa
de residências foi permitir que projetos artísticos de
diferentes disciplinas e contextos se cruzassem, dialogassem
e afetassem uns aos outros. As residências de investigação
artística Territórios Expansivos são um subprograma
das atividades gerais da OSSO, focadas em projetos
artísticos enquadrados mais formal ou institucionalmente
como investigação. Reconhecer qualquer processo criativo
como uma forma de investigação faz parte de uma ampla
discussão que tem sido tida entre muitos artistas, instituições,
universidades ou outros grupos mais informais, como o nosso.
A Investigação Artística ganhou impulso e reconhecimento
nos últimos anos, fortalecida por uma comunidade em expansão,
um número crescente de revistas académicas dedicadas,
conferências internacionais, e promovida por instituições
académicas e não académicas como a Society for Artistic
Research, que juntas delinearam um possível enquadramento,
e que o têm impulsionado conforme sintetizado no seu documento
de política Declaração de Viena sobre Investigação Artística.
Evitando termos como practice-based ou practice-led,
os argumentos a favor da Investigação Artística têm tentado
desafiar o “impasse teoria-prática” enfatizando a “importância
da autodeterminação para os artistas em relação a qual
parte da sua pesquisa pode ser considerada 'prática'
ou 'teoria' ” (Schwab 2019, 27).
Uma maneira de fazer isso é através da noção de exposição
com a qual o Journal for Artistic Research foi pioneiro na criação
do Research Catalogue, uma plataforma online para a publicação
de outputs de investigação, numa variedade de formatos
flexíveis e criativos. Na verdade, outputs não é o termo
adequado para o que pode resultar da investigação artística,
daí a exposição (exposition). Uma exposição é um momento
de apresentação, mas não uma exposição no sentido tradicional.
Embora compartilhem alguns elementos “ na medida em que
às vezes podem coincidir ” (ibid, 28), uma exposição pode
ser entendida num quadro mais amplo como uma articulação
não predeterminada da investigação artística, onde as suas
implicações epistémicas são reconhecidas para lá de “alguma forma
de input sensorial ou experiencial ” (ibid, 32). As exposições não
se esgotam numa comunicação de sentido único, pois a própria
prática de expor alimenta retroativamente o desenvolvimento
da pesquisa, afetando o processo criativo. Não representam
a prática artística, são “acontecimentos que problematizam”
e afetam aquilo que é exposto (ibid, 28 e 30). Nesse sentido,
a nossa perspetiva foi promover um contexto para uma prática
específica onde o conhecimento gerado em cada processo
criativo pudesse ser articulado, exposto e partilhado
de formas não convencionais.
Em fevereiro de 2020 lançamos uma chamada aberta
para artistas/investigadores. O conjunto de propostas
selecionadas pela OSSO (Diogo Alvim e Matilde Meireles),
Pedro Rebelo (Sonic Arts Research Centre, Queen's University
Belfast) e Raquel Castro (Lisboa Soa; Invisible Places,
investigadora do CICANT - Lusófona), estava prestes
a ser anunciado quando surgiu a pandemia de Covid-19,
que parou tudo. Tivemos que repensar e voltar a planear
todas as nossas atividades. É difícil agora reconstituir
a sequência de cancelamentos, adiamentos e reestruturações
que ocorreram ao longo de 2020. Mas essa nova instabilidade
inerente apenas reforçou a nossa necessidade de continuar
a fomentar espaços criativos de debate. A nossa abordagem
crítica ao plano de atividades levou a um programa
de experimentação renovado e fértil.
Cada residência foi inicialmente planeada para culminar
num “dia aberto”, um evento promovido pelo coletivo,
onde o espaço da residência seria aberto ao público
(comunidade local e comunidade artística mais ampla),
e algum tipo de conhecimento poderia ser partilhado
e arquivado. Mas em plena pandemia, este formato
teve de ser repensado. A experiência de acompanhar
vários artistas/investigadores em diferentes formatos
de residência fez-nos aderir ainda mais a essa noção
de exposição, expandindo-a no tempo para incluir
a própria residência. Estas residências permitiram
uma troca contínua de ideias, conhecimentos e experiências
ao longo do tempo — entre os artistas envolvidos e o coletivo —
que foram também, por vezes, partilhadas com o público.
Entendidas como uma espécie de exposições expandidas,
as residências artísticas criam condições únicas para
o entrelaçamento de diferentes processos criativos e para
a sobreposição de diferentes territórios artísticos.
Opondo-se ao percurso directo da intenção
que conduz o sujeito ao conhecimento do mundo
que lhe é exterior, reduzindo viventes e não viventes
a objectos que de alguma forma vai possuir,
Walter Benjamin propôs a imersão e o desaparecimento
do sujeito na verdade, que só pode ser encontrada
por meio do mergulho nos pormenores do mundo.
Libertando-nos da noção de verdade que parece não
contribuir para apreender a forma do mundo, será
proveitoso ensaiar formas de aproximação aos pormenores
do meio que nos envolve, atravessa e transforma, meio que
também nós atravessamos e transformamos.
Encontrar disposições em que a escuta se sobrepõe à visão,
em que o olhar se torna táctil; criar composições que nos
permitem apercebermo-nos implicados num campo
de acontecimentos, ao invés de sujeitos perante um mundo
de coisas e objectos.
Caminhar e parar,
modulações do movimento quotidiano
dos corpos humanos que estimulam
a centralidade do «espaço do corpo»,
por outras palavras, a experiência
háptica que abre o corpo aos
fluxos de intensidades variáveis
que compõem o mundo.
Têm sido estas as formas
que encontrei para experi-
mentar a imersão nos
pormenores do mundo
de acontecimentos
que integro.
A Eira surgiu neste contexto. Permitiu-nos permanecer ligados.
A Eira é um projeto de rádio que começou como um possível
espaço etéreo, capaz de acolher (substituir) as residências
artísticas programadas para aquele ano mas, mais do que isso,
tornou-se uma plataforma que abarcou e potenciou diferentes
momentos de encontro, diálogo, exposição, experimentação,
improvisação e elaboração. A partir de junho de 2020,
a Eira constitui-se como um espaço operativo alternativo
para o coletivo, ao mesmo tempo que ocupava dois
espaços públicos distintos: o da rádio FM, chegando
à comunidade local pelo ar, e o rizoma digital da internet.
O nome Eira refere-se a uma eira real que existe
na propriedade onde a OSSO está instalada. Antigamente,
a eira era não só onde se debulhava o grão, mas também
um lugar onde as pessoas se encontravam, trabalhavam
juntas, cantavam canções de trabalho e partilhavam
os seus pensamentos. Um espaço comunitário delimitado,
definido por uma superfície lisa e plana, uma interrupção
no campo, que hospedava e possibilitava rituais comunitários,
vínculos, um território.
Todas as residências foram redesenhadas com base
na nova plataforma de rádio. Propusemos aos investigadores
uma residência não propriamente remota, mas hospedada
neste espaço etéreo. Um trabalho sonoro que de alguma
forma pudesse expor parte das questões de investigação,
as hesitações encontradas no processo, e os territórios percorridos.
Depois de várias revisões e começos em falso, o verão
trouxe alguma esperança e tranquilidade. A possibilidade
de estarmos fisicamente juntos tornou-se algo tangível.
Começámos a receber alguns artistas nacionais em pessoa,
e aos poucos recuperámos a confiança no meio de máscaras
faciais e do cheiro de álcool-gel no ar. Mas este ar estava
já impregnado de ondas de rádio, um território expandido.
O títuloTerritórios Expansivos serviu de modelo conceptual
para todas as atividades desenvolvidas neste programa,
esperando que a sua postulação vaga e ambivalente
provocasse e estimulasse uma discussão transversal
a todos os projetos e artistas envolvidos.
As plantas não correm,
não voam, permanecem aí, no lugar
onde estão. O mundo, para elas, corresponde
à terra em que estão enraizadas, ao vento que
as embala e ao pedaço de céu que as ilumina
e molha. Nelas, a percepção faz-se na superfície
do corpo inteiro. Elas desenvolveram um corpo que
privilegia a superfície ao volume. As suas folhas
são o tecido de interligação cósmica que produziu
a atmosfera como a conhecemos atravésda fotossíntese,
permitindo não só que a planta de que fazem parte
sobreviva, como tornando possível a vida, o cruzamento
e mistura de uma variedade infinita de seres, corpos
e histórias.
Elas são o exemplo da vida-como-imersão. A vida vegetal
é a vida enquanto exposição integral. As plantas estão integralmente expostas ao meio e simultaneamente agem
sobre ele, tendo transformado radicalmente o rosto
do planeta. Não se pode separar – nem física nem
metafisicamente – a planta do mundo que a acolhe.
O estado de imersão não se resume a estar envolvido
por um meio que nos penetra; também nós penetramos
esse meio.
Como escreveu Emanuele Coccia, ao tornarem possível
o mundo de que elas são parte e conteúdo, as plantas
destroem a hierarquia topológica que parece dominar
o nosso entendimento do mundo. A imersão é uma acção
de penetração recíproca, também afirmou Coccia.
Se penetrar o meio se entrelaça com ser penetrado
por ele, também actividade e passividade se confundem.
Os humanos não são plantas, movem-se no espaço e o seu
mundo é potencialmente infinito na extensão. Caminhar
é, contudo, o acto intencional mais próximo dos ritmos
não volitivos do corpo, como a respiração ou o batimento
cardíaco. Caminhar pode ser uma actividade indistinta
da passividade. Caminhando, encontramos uma multiplicidade
de espaços e lugares e, nesse encontro, reposicionamo-nos
no mundo e engendramos o mundo.
Caminhar pode ser uma forma de nos aproximarmos
da vida-como-imersão.
Ao existirem, as plantas fabricaram o mundo de forma
planetária. As fronteiras entre ser e fazer também se
esboroam. O conhecimento e a contemplação pressupõem
a existência de um mundo fixo, estável, composto de
objectos identificáveis, colocado diante de um sujeito, geralmente, imóvel (de forma a possuir um ponto de vista).
No mundo da imersão tudo existe em movimento com graus
de permeabilidade variáveis e esse movimento é feito
com e no sujeito. Não há uma distinção clara entre nós
e o resto do mundo. Ao agir ou ao pensar, ao sentir
ou ao criar, estamos dependentes e somos condicionados
pelo mundo global e pela situação concreta que nos
implica. Simultaneamente, estamos a produzir esse mundo
e essa situação, ainda que de forma ínfima, mesmo que
apenas no campo da imaginação.
Estamos a experimentar viver-como-imersão.
As plantas fabricaram o mundo em que vivemos, a sua
existência está na génese da existência dos humanos. São
formas de vida capazes de alterar as formas e as vidas do
planeta. A enxertia consiste na mistura de dois corpos vege-
tais. Mesmo que esta mistura seja forçada pelos humanos, a ideia
de mistura é íntima das plantas. São elas que permitiram à matéria
tornar-se vida quando infestaram a camada aérea acima da crosta
terrestre com oxigénio, produzindo a atmosfera que conhecemos.
As plantas são a respiração de todos os seres vivos,
o mundo enquanto respiração. O ar que respiramos não
é um éter geológico, é um produto da vida de outros
seres. Respirar significa estar mergulhado num mundo que
nos penetra com a mesma autoridade e a mesma intensidade
como que o penetramos. Na respiração, dependemos da
vida dos outros. Podemos pensar na enxertia como uma
colaboração dos humanos para esta mistura radical que
é o mundo.
A enxertia e o enxerto podem ser entendidos como formas
particulares desta mistura planetária. Fazem parte da
forma do mundo. Desde que haja gestos que reúnem corpos,
fragmentos ou excertos com alguma afinidade, criando com
eles um novo corpo, uma nova vida, uma nova obra, emerge
uma forma de mistura por um processo de enxertia.
Surge um novo corpo que mantém atributos de todos
os que nele se misturaram e manifesta a marca dessa
operação de mistura.
Procuro agora enxertar excertos
em fragmentos textuais, criar um ser formado
de palavras e imagens. [/]
[/] Lewis Carrol em Sylvie and Bruno Concluded (1893)
e Jorge Luis Borges em Del rigor en la ciência (1946),
fantasiam sobre um mapa de dimensões idênticas
ao território que representa. Numa escala 1:1,
podemos imaginar um mapa que inclua tudo,
que represente até o mais ínfimo dos pormenores.
Ainda que seja uma ficção literária, pelo menos para
as terras tão vastas que o mapa é dito representar,
a ideia que é aqui sugerida não é assim tão absurda:
que um dia poderemos criar um repositório
de conhecimento — um mapa —
capaz de capturar inteiramente os detalhes
e complexidades do mundo, senão mesmo do cosmos.
[/] Além do que referem manuais de botânica,
a enxertia é uma técnica operada pelos humanos
sobre os corpos das plantas, na actualidade
subtendendo demasiadas vezes o entendimento
das plantas como objectos de produção em massa.
Estas formas de vida são reduzidas ao que os humanos
chamam de «recursos». A forma como o enxerto
é utilizado na contemporaneidade pode ser entendida,
então, como uma figura que consubstancia a relação
dos humanos com os não-humanos no seio do capitalismo.
Imaginar a espécie humana desde o advento do capitalismo
compromete-nos na difusão das técnicas de alienação
que transformaram os seres, humanos e não humanos,
e as coisas, em recursos para a exploração capitalista.
Como Anna Tsing afirmou, confronta-nos com
a forma como o entendimento do humano inaugurado
pela filosofia moderna — assente no carácter excepcional
do humano, na sua capacidade exclusiva de auto-reflexividade
e autodeterminação e na sua independência absoluta
de tudo o que o rodeia — se mantém operante, por meio
da assunção que atributos como a «intencionalidade»
ou a «capacidade de acção» são exclusivos dos humanos.
Este enquadramento conceptual aprisiona nele todos
os outros seres, concebidos como dependentes dos humanos,
destituindo-os da sua capacidade para fazer-mundo.
Assim se ocultam os entrelaçamentos da vida e dos espaços vitais,
a mistura e imersão que caracterizam o mundo.
A enxertia consiste na mistura de dois corpos vegetais
simbiontes decidida e operada pelos humanos
que parece provocar uma convulsão em ambos os seres,
uma vez que dela parece restar sempre uma cicatriz monstruosa.
Nas práticas de enxertia age-se sobre corpos de outrem,
impondo-lhes que se misturem. Na agricultura industrializada,
a combinação destes seres é muitas vezes operada para
condicionar o desenvolvimento da planta que emerge
desta mistura, limitando a sua vida futura. As macieiras
enxertadas são impedidas de se desenvolver como
árvores, o seu corpo permanece
para sempre arbustivo. Assim, é mais fácil apanhar as maçãs.
Teríamos de pensar cuidadosamente na forma como
desenharíamos este mapa de tudo e a primeira
dificuldade seria logo pensar que a superfície que ele
cobriria não é plana. Tal como quando tentamos
pensar o nosso planeta, é fácil
esquecer que não existem representações planas
perfeitas: os mapas mais conhecidos
usam a projeção de Mercator,
Expresso na escala de um mapa está o nível
de precisão desejado. Ninguém espera que um mapa
desenhado na escala 1:25.000, por exemplo, mostre
um buraco na estrada, nem mesmo, talvez, nas escalas 1:10 ou 1:2.
Mas se passarmos para , ou «para as coisas elas próprias»
(zu den Sachen selbst) como Edmund Husserl formula
a sua máxima fenomenológica, esperamos razoavelmente
que todos os detalhes sejam tidos em conta, ainda que
nas condições de uma infinidade virtual, a contagem
e contabilização de todo e qualquer detalhe se venha
a revelar um esforço inútil.
Joana Braga
Arquitecta, artista, investigadora. O seu trabalho articula práticas
espaciais, discursivas, visuais e performativas para explorar
a experiência estética do espaço e também as suas dimensões
culturais, políticas e sociais. Debruça-se sobre a caminhada
como prática experimental e artística para repensar criticamente
a o espaço habitado e a relação que com ele estabelecemos.
Tem experimentado formatos de pesquisa que articulam a experiência
corporizada do território com a montagem e reconfiguração de vestígios
nele inscritos, para questionar o espaço social, bem como os discursos,
objectos e práticas que o desdobram. A sua actividade tem sido multifacetada,
compreendendo a prática artística, a investigação, a curadoria e a escrita.
Recentemente apresentou os percursos sonoros e performativos Os Passos
em Volta — Alcântara (Jun. 2023) e Os Passos em Volta — Trafaria (Jun. 2022),
com Diogo Alvim; A Cada Passo, uma Constelação (Out. 2019), Partituras para Ir
(Jun. 2019); e a instalação passos em volta do enxerto (Dez. 2022), com Sara Morais.
Bolseira no IFILNOVA, desenvolve a dissertação Pensamento e Expressão na Obra
de Walter Benjamin. Pós-graduada em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos
Contemporâneos (ISCTE-IUL) e em Arquitectura Bioclimática (FA-UL).
Se incluirmos o tempo, só será possível criar
a representação desejada de um momento específico
e isto apenas se lograrmos fazer a contagem
e mapeamento de todos os detalhes de um espaço
num mesmo instante.
São estas as nossas
dificuldades e ainda não falamos do «tempo»,
que para alguns funciona como uma quarta dimensão.
que distende o que está próximo dos polos de tal forma
que estes mapas não podem ser utilizados para estas regiões.
Este problema pode ser resolvido utilizando outras projeções,
mas há sempre áreas que vão ser «arredondadas» e perder definição.
Melhor seria utilizar um mapa tridimensional — um globo —
mas mesmo assim, teríamos de ter em conta a sua verdadeira
forma, já que o mundo não é nem regular nem completamente esférico.
Cada artista-investigador traria a sua prática artística
própria, os seus processos criativos, os seus territórios,
e exporia, confrontaria, sobreporia e desterritorializaria
a sua prática através do confronto e justaposição
do seu trabalho com o dos outros residentes.
Territórios Expansivos tornou-se ela própria
uma ideia extensa, um motivo (motivação), ou aludindo
a Deleuze e Guattari, um refrão (ritornelle) (2007).
Território é um conceito multifacetado e dinâmico
que tem sido progressivamente adotado por diferentes
disciplinas como uma ferramenta conceptual que facilita
a compreensão dos processos e relações sociais
num enquadramento espacial. Se “tem feito parte
do corpus teórico nas diversas correntes do pensamento
geográfico”, expandiu-se para além das fronteiras desta
disciplina, para se tornar um importante conceito
metodológico noutras disciplinas das ciências sociais
(Llanos-Hernández 2010, 207). Com esta expansão,
território tornou-se um “conceito interdisciplinar
que permite o estudo de novas realidades do mundo social no contexto atual de globalização, e que confere relevância central à dimensão
Isto traz-nos ao problema de que as linhas e as superfícies
não são realmente lisas. Dependendo da ampliação e, portanto,
da proporção, uma superfície pode parecer plana ou rugosa.
De facto, independentemente de pensarmos na geometria
fractal como uma expressão adequada para estes limites,
como Benoit Mandelbrot argumenta no seu artigo
Qual é o Comprimento da Costa da Inglaterra?,
«[…] as curvas geográficas são tão intricadas no seu detalhe
que os seus comprimentos são muitas vezes infinitos ou,
mais precisamente, indefiníveis.»
Isto é particularmente verdadeiro
quando passamos da escala macro para a micro, e daí para
o nível quântico da realidade, onde o próprio ato de medição
interfere com o seu resultado.
Se eu gastar qualquer quantidade de tempo maior do que zero
no mapeamento da realidade, nada me garante que continue
a viver nessa mesma realidade inalterada. Nesse caso, o meu
mapa registaria um deslizamento temporal no qual quaisquer
dois pontos nele gravados teriam uma diferença espacial visível e outra,
temporal, invisível — o vestígio do processo de fazer o mapa.
espacial dos processos sociais que estuda” (ibid, 213).
Assim, embora possa em primeira instância referir-se
a áreas de terra, zonas ou domínios, o conceito
de território constitui uma “manifestação mais versátil
do espaço social como reprodutor das ações dos atores
sociais” (ibid, 213). Portanto, compreende e articula noções
como identidade e comunidade, domínio e controle,
apropriação, exploração, troca ou solidariedade; atua como
base, fundamento, espaço para habitar e agir, mas também
como um catalisador específico, em que padrões humanos
e físicos ganham forma, reproduzem-se, ganham
consistência, fundem-se – agenciam-se numa nova realidade.
Os territórios são, portanto, construções sociais, produtos
da agência humana e outra que abrange espaços físicos,
virtuais, sociais, políticos, experienciais e afetivos. Formam
identidades, produzem significados, perspetivas singulares,
valores e modos de viver. Construído a partir de
manifestações de rituais quotidianos, eventos, ocorrências
repetitivas que geram, como argumentam Deleuze e Guattari,
“a emergência de matérias de expressão (qualidades)”
(Deleuze e Guattari 2007, 400), um território também pode
ser entendido como um campo de conhecimento,
De facto, se eu precisar de tempo para fazer um mapa,
a trajetória que escolho para o fazer é significativa,
uma vez que desenha um conjunto virtualmente infinito
de mapeamentos temporalmente deslocados de uma mesma
realidade dinâmica que, não podemos esquecer, já estará
desatualizada no momento em que a representação está completa.
uma área de atividade ou experiência, uma disciplina,
onde o seu exercício materializa um modo de fazer,
consolida a prática e a especialização. Nesse sentido,
um “território não é um conceito espacial nem
um conceito material” (Buchanan 2021, 96). Não está
tanto ligado a um lugar físico, mas a um espaço virtual,
uma sensação mais ou menos volátil: “o espaço
do território não pode ser facilmente mapeado
ou correlacionado com o proverbial actos no terreno’.
Em muitos casos, o território não tem uma dimensão
espacial específica, está tudo ‘nas nossas cabeças’,
e é melhor entendido como um sentimento, ou melhor
ainda, como um sentido de propósito. Em vez de
considerá-los como espaços, seria mais útil e exato
entender os territórios como estados subjetivos num
sentido psicológico” (ibid).
Assim, os territórios não têm necessariamente fronteiras
físicas, mas sempre molduras mentais, enquadramentos.
“A moldura é o que estabelece território a partir do caos
que é a terra. A moldura é assim a primeira construção,
os cantos, do plano de composição. Sem moldura
ou fronteira não pode haver território, e sem território
Na realidade em que
vivemos, muitos se interrogam
se o adicionar de mais
ilhas ao mapa conduzirá a alguma mudança.
Alguns investigam novas topologias, outros olham
para as costuras do mapa, e outros para as linhas, os fios
que tecem as nossas vidas. Também já me cruzei com outros que
o usam para jogar à macaca,
inventando novas regras para as suas viagens. [/]
pode haver objetos ou coisas, mas não qualidades
que se podem tornar expressivas, que podem intensificar
e transformar corpos vivos” (Grosz 2008, 11).
Enquadrar é demarcar, estabelecer forma, ordem,
estrutura. Delimita um campo, cria uma disjunção, um dentro
e um fora. “A moldura separa. Ela corta um meio
ou espaço” (Grosz 2008, 13). É essa moldura, esse
enquadramento provisório do caos que “produz qualidades
extraíveis, que se tornam os materiais e estruturas formais
da arte” (ibid, 16). No entanto, a moldura (enquanto limite
de um território, de uma disciplina, de um processo criativo)
não é fixo ou estável, pois toma forma a partir de um arranjo
complexo de qualidades que vão sendo criadas
e rearranjadas. Cada território é sempre um processo,
um ato (Deleuze e Guattari 2007, 399), que afeta e é afetado,
transformado, mutado em novos territórios. "Um território
é sempre uma via de desterritorialização, pelo menos
potencial, em via de passagem a outros agenciamentos,
com o risco que outro agenciamento produza
uma reterritorialização" (ibid 2007, 414). É atravessado
por uma linha transversal que conecta, se estende para fora,
um “vetor especializado de desterritorialização” (ibid 2007, 427).
É um campo em movimento, continuamente regenerado
a partir do contacto dinâmico com seus territórios vizinhos,
com aquilo que é estrangeiro, externo, com o caos.
Quando se intersetam, os territórios alimentam-se
da transgressão das suas fronteiras. A moldura
é uma interface entre territórios em mutação.
Não podemos adivinhar o tamanho da nossa
ignorância, já que essas áreas nem existem
para serem preenchidas, e os continentes de saber
estão tenuemente ligados a ilhas de experiência
que flutuam num mar de nada.
Ainda assim, pode acontecer no mapa que diferentes tempos
se tornem contemporâneos. Dependendo de como proceder
ao desenhá-lo, duas regiões poderão estar separadas
por segundos, anos ou milénios. À medida que meus olhos
se movem de uma região para outra, posso passar
da Idade Média para o século XX num piscar de olhos.
E, no entanto, o tempo do mapa nunca é o meu tempo,
pois no mapa o trabalho do conhecimento já está sempre feito.
Referências
Buchanan, I. (2021). Assemblage Theory and Method. United Kingdom: Bloomsbury Academic.
Grosz, E. (2008). Chaos, territory, art : Deleuze and the framing of the earth. United Kingdom: Columbia University Press.
Guattari, F., Deleuze, G. (2007). Mil Planaltos - Capitalismo E Esquizofrenia 2. Assírio & Alvim.
Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies 14 (3): 575–599.
Krauss, R. (1979). Sculpture in the Expanded Field. October, 8, 30–44.
Llanos-Hernandez, L. (2010). The concept of territory and research in social sciences. Agricultura, sociedad y desarrollo [online]. 2010, vol.7, n.3, pp.207-220.
Schwab, M. (2019) Expositionality. In de Assis, P. and d’Errico, L. (Eds.), Artistic Research: Charting a Field in Expansion (pp. 27-45). United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers.
Aguiar, Carlos. 2018. Manual de Botânica. I. Estrutura e Reprodução. Bragança:
IPB-Instituto Politécnico de Bragança e CIMO-Centro de Investigação de Montanha.
Benjamin, Walter. 2004 [1928]. Prólogo Epistemológico-Crítico a Origem do Drama Trágico Alemão, traduzido por João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim: pp. 13-45.
Coccia, Emanuele. 2019. A Vida das Plantas: Uma Metafísica da Mistura, traduzido por Jorge Leandro Rosa. Lisboa: Sistema Solar (chancela Documenta).
Solnit, Rebecca. 2000. Wonderlust, A History of Walking. Nova Iorque: Penguin Books
Tsing, Anna Lowenhaupt .2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibilitiy of Life in Capitalist Ruins. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Artaud, A. (2019). As Novas revelações do Ser & O Teatro de Séraphine. Lisboa:
Edição Sr Teste
Barthes, R. (2012). How to Live Together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces. NY: Columbia University Press
Bataille, G. (2015). O Nascimento da Arte (1ª ed.). Lisboa: Sistema Solar
Beuys, J. (1972) We won’t do it without the rose, Because We Can No Longer Think
Baudelaire, C. (2009). Pintor da Vida Moderna (5ª ed.). Lisboa: Vega, Passagens
Correia, N. (2017). Não Percas a Rosa / Ó Liberdade, Brancura do Relâmpago.
Lisboa: Ponto de Fuga
Dufourmantelle, A. (2018). Power of Gentleness. Meditations on the risk of living (1ªed.) USA: Fordham University Press
Fraleigh, S. (2010). Butoh: Metamorphic Dance and Global Alchemy. Urbana, Chicago and Springfield: University of Illinois Press
Heidegger, M. (2000). A Origem da Obra de Arte. Lisboa: Edições 70
Hillesum, E. (2009). Cartas 1941-1943. Lisboa: Assírio & Alvim
Laban, R. (1971). Domínio do Movimento (2ª ed.). São Paulo: Summus editorial
Mendonça, J. T. (1997). Cântico dos Cânticos. Lisboa: Cotovia
Mendonça, J. T. (2015). Que coisa são as nuvens (1ª ed.). Paço de Arcos: Expresso (Impresa Publishing)
Pelton, A. (2019). Desert Transcendentalist. Munich: Hirmer Verlag
Pessoa, F. (1998). Mensagem. Lisboa: Assírio & Alvim
Semke, H. (2016). Cerâmicas de Hein Semke - Doação Teresa Balté, Museu Nacional do Azulejo, Lisboa
Silesius, A. (1991). A Rosa é sem porquê (1ª ed.). Lisboa: Vega, Passagens
Solnit, R. (2005). A Field Guide To Getting Lost. Edinburg: Canongate Books
Tavares, G. M. (2019). Atlas: do corpo e da imaginação. Lisboa: Relógio D’Água Editores
A moldura, enquanto margem, é um território em si,
lugar de interferências particulares onde as diferenças
entram em contacto, diálogo e troca. Estão em permanente
transformação, gerando novas dimensões territoriais
de convergência, conversão ou conflito. Assim, a moldura
define o território, mas o território transforma a moldura,
movendo-a, empurrando-a e desintegrando-a. Há violência
neste processo, e o texto da Joana Braga reconhece-a
nas cicatrizes deixadas nas plantas pela enxertia. Uma violência
na fusão de dois seres (dois territórios?) que, no entanto,
“não interrompeu o seu desenvolvimento”. Como um enxerto
entre duas plantas, os territórios afetam e são afetados,
deixando cicatrizes que são também matérias de expressão,
marcas de um novo, ainda que temporário, território expandido.
Territorialização, desterritorialização e reterritorialização.
Este movimento é constante, ainda que rítmico, sempre
uma via para um novo território potencial. Um processo
cíclico, um ritmo alternado, onde “o corpo se torna
intimamente conectado e informado pelos movimentos
peristálticos, sístole e diástole, contração e expansão,
do próprio universo”. (Grosz 2008, 16). Não é tanto
o território em si que importa, mas os seus vetores,
movimentos, respiração. A respiração é um ato
interpenetrativo. Não é só o corpo que entra no território,
mas o território penetra no corpo, com as suas qualidades,
e o seu cheiro. Como lemos no texto da Joana, “O cheiro
é a presença de um outro em nós. Uma presença vívida
que impressiona os sentidos, que nos altera a cada inalação.
Será o cheiro uma forma particular de encontro?”
Há algo intrigante na ideia de território enquanto ar,
não terra, mas vento, algo respirável. Um território
definido por movimentos erráticos, fronteiras voláteis,
um território que não é tanto invadido como invade,
através do ar e da sua eficácia contagiante. Um território
que não é possuído, mas que submerge, sopra,
transforma e se transforma num ritmo irregular.
Como o vento - inconstante, imprevisível.
Territórios Expansivos foi pensado de modo
a compreender expansão como um processo
de movimento perpétuo – físico, social, político,
conceptual, artístico. No âmbito deste tema apoiámos
projetos de investigação artística que trabalhassem
nas suas dimensões físicas ou naturais, as suas
potencialidades culturais e metafóricas. Procurámos
posicionar a investigação artística num caminho que
evita qualquer conclusão do processo criativo.
Isto pressupõe a compreensão de que o conhecimento
é instável, e que é impossível mapear totalmente o território.
Derivando do “campo expandido” de Krauss (1979)
– uma noção que se expandiu ela própria por quase todas
as disciplinas artísticas – Territórios Expansivos busca
sustentar essa expansão. Propõe a volatilidade da moldura,
onde o processo - o território - prossegue redefinindo
as suas próprias regras, a sua própria ordem
dinamicamente. A arte sempre existiu em expansão
potencial, um território em busca do caos.
Ainda que Carroll e Borges partilhem esta ideia
de um mapa na escala , a sua descrição do destino
do mapa é muito diferente. No texto de Carroll,
o mapa «nunca foi desdobrado porque os camponeses
se opunham, diziam que cobriria toda a terra e impediria
o sol de chegar a ela!»
Hoje, a única forma de imaginar o conhecimento é aceitar que a sua representação
se estilhaçou numa quantidade cada vez maior de visões detalhadas, mas limitadas.
Este mapa não cobre um território, é feito de conjuntos de manchas
parcialmente sobrepostas, com tamanhos diferentes,
que marcam variados pontos e tempos de interesse.
As áreas de conhecimento acumulam-se em torno
de fenómenos populares, passados ou presentes.
“[A] história da pintura, e da arte após a pintura, pode ser vista
como a ação de sair do quadro, de ir além e pressionar contra
a moldura, a moldura explodindo através do movimento
que não pode mais conter.” (Grosz 2008, 18). Contemplar
uma expansão contínua procura ganhar terreno para
um processo artístico regenerativo sustentado, ativo,
que resiste a qualquer formalização, a qualquer tentativa
de capturar e interromper as suas contínuas transformações.
Daí entender as exposições dinamicamente (elas problematizam,
não representam), pois o conhecimento, quando representado,
já está desatualizado. O deslocamento temporal dos mapas a
que Michael Schwab se refere no seu texto aponta para
uma realidade dinâmica impossível de capturar plenamente.
Qualquer que seja a nossa posição, nunca veremos
toda a realidade.
Temos estado em contacto com o Michael desde o início
deste programa. As suas ideias sobre a Investigação Artística,
a noção de Exposição e as motivações por detrás da Society
for Artistic Research, o Journal for Artistic Research
e o Research Catalogue, estiveram presentes na forma
como concebemos o conjunto de atividades
que compõem os Territórios Expansivos.
O Michael participou no nosso workshop de investigação
artística em Novembro de 2021, onde artistas-investigadores
da OSSO, do Laboratório de Investigação em Design
e Artes (LIDA) e mestrandos da Escola Superior de Artes
e Design das Caldas da Rainha (ESAD), criaram uma comunidade
temporária de investigação artística e de processos partilhados.
Créditos
Territórios Expansivos
Editores
Publicado por
OSSO Investigação (coord. Diogo Alvim e Matilde Meireles 2020-22)
Cátedra UNESCO em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades
e Criatividade do Politécnico de Leiria. (coord. Lígia Afonso)
Autores
Tradução e Revisão
José Roseira
Design
Protótipo
Cláudio Nunes, Gonçalo Rocha e Rita Oliveira - Estudantes do Mestrado de Design Gráfico da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR-IPLeiria)
Implementação e design final
Supervisão
A OSSO é financiada por DGArtes, República Portuguesa.
© OSSO 2023
Agradecimentos
António Gomes, Rita Oliveira, Michael Schwab, Teresa Luzio, Sara Morais, Joana Braga, Ruth Bernatek e Pedro Tropa.
Referência Bibliográfica
Alvim, Diogo, Meireles, Matilde (eds.), (2023). Expansive Territories / Territórios Expansivos. ed. bilingue pt/eng, online. Caldas da Rainha, Portugal: OSSO and UNESCO Chair in Arts and Cultural Management, Cities and Creativity IPLeiria (co-publishing).
ISBN 978-989-53715-8-7
De alguma forma, este mapa nunca se tornou real,
tocando o solo apenas como um monumento a si próprio, uma ideia
dos seus criadores. No entanto, na versão de Borges o mapa
é desenrolado e interfere com a realidade. A inutilidade do mapa
é descoberta tarde de mais, e ele é entregue
«às Inclemências do Sol e dos Invernos.»
* As ideias e opiniões expressas nesta publicação são da responsabilidade dos autores e não da UNESCO, pelo que não comprometem esta organização.
A diferença entre os relatos de Carroll e Borges
pode ser explicada pela inclinação matemática
do primeiro e pelo trabalho do segundo como
bibliotecário, ou pelos diferentes períodos históricos
em que esses textos foram escritos: separados por cinquenta
e tal anos que definem um período marcado pelas
duas guerras mundiais e o alvorecer da era atómica.
Seja qual for o motivo da imagem
diferente do mapa nestes textos,
em Carroll o mapa pode ser
dobrado,
Borges continua
«Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas Ruínas do Mapa,
habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o País
não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas.»
Alguns podem até entrar ou sair de algum desses fragmentos sem reparar.
à medida que se aproxima
da escala perfeita é indissociável da sua fragmentação.
À falta de uma ideia ou propósito, a capacidade
de manter o conhecimento unificado como um mapa
o faz pode parecer muito difícil em todos os aspectos.
Michael Schwab
é um artista e investigador baseado em Londres
que investiga os usos pós-conceptuais da tecnologia
numa variedade de meios, incluindo fotografia, desenho,
gravura e arte de instalação. Tem um mestrado
em filosofia (Universidade de Hamburgo) e um doutoramento
em fotografia (Royal College of Art, Londres)
que se concentra na pós-fotografia pós-conceptual
e na metodologia de investigação artística.
É o editor-chefe fundador do Journal for Artistic Research (JAR),
co-editor da Intellectual Birdhouse.
Prática Artística como Investigação. (2012), co-editor da
The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia (2013),
editor do livro Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic
Research (2015), bem como editor do livro Transpositions.
Operadores Estéticos-Epistémicos em Investigação Artística. (2018).
O seu livro mais recente, Futures of the Contemporary
(Futuros da Contemporaneidade). Contemporaneidade, Inoportunidade
e Investigação Artística, co-editado com Paulo de Assis, foi publicado
em 2019. Através de um enfoque na experimentação e na exposição
da prática como investigação, Schwab desenvolveu uma abordagem
conceptual que liga a liberdade artística com a criticidade académica
em apoio ao que tem sido chamado a "volta da prática na teoria contemporânea".